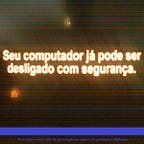As Fake News são da Índole Humana
Eu sou cristão. Isso não é segredo para ninguém, inclusive registro algumas discussões sobre minha fé com amigos em um podcast, o TeolabCast. Sendo cristão, sou muito mais inclinado a crer na máxima hobbesiana de que o “homem é o lobo do homem” do que no raciocínio de Jean Jacques Rousseau de que o homem possui uma natureza boa e é corrompido pelo processo civilizador.
Se o homem é o lobo do homem, precisa de um poder regulador que o limite, para que ele deixe o “estado de natureza” e evite o caos da bellum omnium contra omnes (eterna luta de todos contra todos). Então, para Hobbes, era necessário um contrato social em torno de um poder centralizado, para que o homem não caísse nesse estado de natureza e conseguisse conviver minimamente em sociedade. Cabe lembrar que Hobbes escreveu o Leviatã no contexto da Guerra Civil inglesa do século XVII, então esse argumento da “guerra de todos contra todos” era vívido.
Rousseau, por sua vez, achava que um contrato social era necessário por outros motivos: o homem era naturalmente bom e o processo civilizatório o corrompia. Estava claro para Rousseau que essa “bondade” do indivíduo primitivo também tinha consequência a sua limitação extrema. As necessidades eram poucas, mas a capacidade de compreensão do mundo também era limitada. Então, era necessário que houvesse um contrato entre indivíduos bons para que se criasse uma sociedade, no sentido de associação entre indivíduos mesmo, para só depois ser criado um Estado em que esses indivíduos, associados, administrassem todas essas crescentes necessidades em conjunto.
Rousseau defendia a máxima de que o estado que não era formado pela livre associação dos indivíduos era um instrumento de coerção, e, portanto, deveria ser combatido. O que faz todo o sentido, considerando que Rousseau vivia sob o abusivo absolutismo francês do século XVIII, uma panela de pressão que explodiu 27 anos após a publicação de “Do Contrato Social”, na Revolução Francesa. Que foi uma oportunidade quase única, uma vez que não é usual que uma sociedade aperte o botão reset e se reorganize totalmente, como ocorreu no caso francês e, já no século XX, na Rússia bolchevique, com um enfoque totalmente diferente do enfoque francês.
É necessário dizer que há muitas controvérsias sobre os limites e interpretações de ambos os autores. Hobbes, ao defender um estado centralizador, justificou o absolutismo o colonialismo e o imperialismo. A ideia de que a natureza do homem é má vai desembocar, de alguma forma, na fatídica mentalidade racista do “fardo do homem branco”, que foi genocidária no colonialismo africano e asiático dos séculos XIX e XX. Minha defesa de Hobbes claramente não abarca essas questões e, para mim, esse tipo de coisa só prova como a natureza do homem é ruim mesmo e tudo é usado como justificativa para que o outro seja desumanizado e seus interesses individuais prevaleçam sobre aqueles que seriam os melhores interesses possíveis para a convivência comum.
E é aí que começa a ganhar importância não apenas o fato de que eu sou cristão, mas também o fato de eu ter uma interpretação da Bíblia que é considerada sui generis pelo senso comum. Um dos principais conceitos trabalhados na Bíblia é o de “natureza humana”. E basicamente a mensagem é a de que a natureza humana é intrinsecamente ruim. E é ruim desde que o homem conheceu o pecado. E, bem, à partir daí há variações, e inclusive há todo um campo de estudos dentro da Teologia sobre o pecado, chamado Hamartiologia.
Admiro o esforço de todos os que tentam explicar a origem do pecado e seus efeitos sobre a humanidade, mas me presto, como leigo, a dar uma explicação mais simples: o homem foi criado para viver em um estado de perfeita comunhão consigo mesmo e com Deus. O simbolismo da passagem em que Eva foi retirada da costela de Adão está no fato de que, no ideal de Deus, Adão olha para Eva e vê em Eva uma parte de si mesmo. Para Deus, o homem foi criado para ser uma parte de um todo chamado humanidade. Somos todos criados para vermos partes de nós mesmos nas outras pessoas. Nessa visão,as demais pessoas nos completam, ao invés de competirem conosco.
Bem, daí veio o pecado. O que é o pecado? O pecado foi quando o homem e a mulher passaram a pensar em si mesmos antes de pensar na humanidade. Tanto que a primeira coisa que Adão fez depois de pecar foi culpar Eva. Aquele laço de comunhão estava rompido e já não víamos mais aos outros como a nós mesmos. À partir daí, vimos por todo o Antigo Testamento os efeitos deletérios de quando não conseguimos mais enxergar os outros como parte de nós mesmos: guerras, abusos, e uma enorme compilação de mortes violentas que faz inveja a Game of Thrones. Mas também a promessa de que aquela situação desgraçada seria resolvida no final.
E daí, para completar o arcabouço conceitual do cristianismo em uma explicação simples, Cristo veio ao mundo e morreu para que esse profundo senso de humanidade fosse restaurado. Para que pudéssemos parar de pensar em nós mesmos e começássemos a enxergar novamente as outras pessoas como aquelas que nos completam. Não à toa, o Apóstolo Paulo faz, por diversas vezes, a analogia da igreja cristã como um conjunto de diversas partes de um corpo.
Essas explicações acabaram sendo necessárias pra que eu definisse o que é o conceito de maldade em que eu acredito e porque eu defendo que a natureza humana é má: a maldade surge quando o ser humano passa a enxergar o outro como um rival, e não como parte de si mesmo. Ao enxergar o outro como rival, torna-se admissível destruir o outro. A maldade está na perda do senso de humanidade, na prevalência do indivíduo em detrimento do todo, e, nesse contexto, ainda que eu tenha forte inclinação pelo diagnóstico de Hobbes, tenho sérias restrições à solução absolutista que ele propõe. Mas essa é uma longa discussão, que passa pelo nascimento dos pensadores liberais, pelo utilitarismo, pela institucionalização das burocracias estatais, pelo conceito de tragedy of commons aplicado às Ciências Sociais e pelas diferentes vertentes do neoinstitucionalismo como resposta a esse conceito. Mas esse não é exatamente o assunto desse texto.
E as Fake News?
Nessas alturas você deve estar se perguntando o que toda essa explicação um tanto quanto ontológica tem a ver com Fake News. A resposta é: tudo.
Esses dias, saiu um texto no Gizmodo, repercutindo um estudo que saiu na Science, em que pesquisadores descobriram que os principais vetores de Fake News são pessoas, e não bots. Isso quer dizer que o espalhamento de notícias falsas não é necessariamente (ou apenas) uma conspiração de megacorporações. Quer dizer que as pessoas espalham notícias falsas conscientemente quando essas notícias estão de acordo com o conjunto de princípios com os quais elas concordam.
Além disso, cabe ressaltar o papel da Internet como meio amplificador, organizador e dinamizador do alcance das informações. A mudança do regime informacional fez com que as pessoas abraçassem novas ideias, cada vez mais organizadas dentro de estereótipos, criando novas “identidades”. Sabendo disso, instituições e grupos políticos usam esse novo conceito de identidade a seu favor. Esse conceito, que Castells chama de “identidade legitimadora”, serve para empresas como Google e Apple se consolidarem como líderes de mercado, mas também serve para que as afiliações políticas das pessoas encontrem representação em partidos políticos, grupos religiosos, movimentos diversos ou grupos financiados por think tanks. Para vocês entenderem melhor do que se trata eu peguei um trecho que um texto meu mesmo em que esse conceito de Castells é explicado:
Para Castells, a identidade legitimadora é um artifício das instituições dominantes da sociedade com o objetivo de “expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais” (2000, p. 22), e também “um conjunto de organizações e instituições, bem como uma série de atores sociais estruturados e organizados, que, embora às vezes de modo conflitante, reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de dominação estrutural” (2000, p. 22). (QUEIROZ, 2018)
Vejam que incrível: a necessidade de legitimação de uma identidade se tornou mais importante do que um eventual compromisso com a verdade. E isso se reflete na constatação do estudo publicado na Science, de que pessoas compartilhando notícias inverídicas fazem isso basicamente porque querem provar um ponto que legitime a “identidade” adotada, e de que isso é especialmente forte quando o assunto discutido é política. Não à toa, parte relevante das notícias falsas são relativas à política, e são as notícias incorretas ou imprecisas sobre política que conseguem maior alcance.
A reafirmação de identidades não é sempre ruim: um exemplo positivo nesse sentido está no fortalecimento dos movimentos identitários de minorias proporcionado pelas redes sociais: minorias que antes não tinham tanta voz na sociedade, como as relativas à raça, gênero e orientação sexual, agora tem espaços de discussão, denúncia e desenvolvimento de estratégias que antes não existiam. Obviamente, a criação desses espaços e a mudança da opinião pública a respeito desses temas geraram uma reação de pessoas interessadas na manutenção do paradigma anterior.
Esse conceito de identidade legitimadora inclui o bônus de fazer parte de grupos de pessoas com ideias similares. São as chamadas “bolhas”, que, em uma definição tosca, são os espaços dentro das redes sociais em que as pessoas recebem notícias ou informações que legitimem seus pontos de vista. Essas bolhas podem ser formalizadas (um grupo de Facebook ou WhatsApp com um tema específico, estilo “fãs do Sérgio Cabral” — eu coloquei algo bem improvável para não ofender ninguém) ou não: um exemplo de bolha não formalizada é quando você tem uma conta no Twitter ou no Facebook e só segue pessoas que pensam da mesma forma que você.
Para piorar, todas as iniciativas que se prestam a combater as notícias falsas, como a do TSE, não terão grande efeito. Porque o problema não está propriamente nas fake news. Elas são consequência de uma identidade legitimadora que faz com que as pessoas adotem instituições para si, numa espécie digital de corporativismo. E, bem, esse corporativismo, especialmente quando associados a identidades, vira um instrumento para a representação coletiva dos interesses individuais.
Se a propagação indiscriminada de notícias falsas é fruto de uma identidade legitimadora que desemboca na representação coletiva dos interesses individuais, é seguro dizer que a maioria das ações contra as notícias inverídicas não funcionarão, por não atacarem o cerne do problema. Por isso, algumas abordagens são especialmente inadequadas:
- A presunção de ignorância: boa parte das pessoas considera que a difusão de notícias falsas é um fenômeno relacionado à ignorância. Lamento dizer, mas não é. Então a mentalidade colonialista “vamos levar conhecimento e esclarecimento aos ignorantes” não vai funcionar. As pessoas difundem notícias falsas por opção, porque isso ajuda a legitimar os estereótipos e identidades que elas adotaram.
- A coerção: proibir a difusão de notícias falsas também não vai adiantar nada. Além de não haver meio técnico de filtrar e avaliar tudo o que surge na Internet, essa abordagem ainda traz o agravante de fortalecer as identidades legitimadoras através do sentimento de perseguição.
O que fazer?
Lembrem: no início desse texto, eu disse para vocês que acreditava na máxima hobbesiana de que o homem é o lobo do homem. O grande problema do homem ser o lobo do homem é que se você sugere uma estrutura de dominação personalista para resolver essa questão, tal qual a monarquia, você correrá o sério risco dessa estrutura de dominação fazer o papel de lobo. Por isso é necessário apontar soluções no sentido de limitar a ação humana como lobo do homem, e, embora não existam soluções prontas, parte das respostas está justamente em oferecer para essas pessoas algo mais forte e persuasivo do que essa identidade legitimadora que leva grupos de pessoas a defenderem coletivamente seus interesses individuais — e a espalharem notícias falsas para isso, se necessário.
O grande desafio para o cenário atual é o resgate do senso de humanidade em detrimento dos interesses individuais. Porque a exacerbação dos interesses individuais representam essa inclinação negativa que deve ser combatida, enquanto o senso de humanidade representa a inclinação positiva que mantém a coesão social. Parte da questão pode ser resolvida com a adoção de instituições realmente inclusivas, que desafiem o caráter hermético dessas identidades legitimadoras. Atribuindo às instituições essa legitimidade que os pequenos grupos tem — e a tecnologia é um meio fundamental para isso — os pequenos grupos acabam se dissolvendo ou se enfraquecendo, por fornecerem um bônus menor às pessoas do que essas instituições.
O fato da instituição ser inclusiva é especialmente importante, porque o foco das instituições realmente inclusivas está na inclusão de todo o tecido social, com ações que respeitem as identidades historicamente oprimidas e, ao mesmo tempo, resgatem as similaridades entre todos nós, o nosso sendo de humanidade, aquilo que temos em comum. Nem que essas similaridades estejam em ver todo mundo triste pela morte de uma sumidade como o Stephen Hawking, por exemplo.
Falando em Stephen Haking (R.I.P.), talvez seja o caso de encerrar esse texto com uma citação dele, extraída de um texto publicado na Voyager 1:
Se as máquinas produzirem tudo o que precisamos, o resultado vai depender de como as coisas serão distribuídas. Todos podem usufruir de uma vida de luxo e prazer se a riqueza produzida pelas máquinas for compartilhada, ou a maioria das pessoas podem acabar miseravelmente pobres, caso a pressão dos proprietários das máquinas contra a distribuição da riqueza obtiver êxito. Até agora, a tendência parece seguir na segunda opção, com a tecnologia conduzindo a uma desigualdade cada vez maior. (Stephen Hawking)
Cabe a nós aprender a compartilhar.
Referências:
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e. Civil. Col. Os Pensadores. Trad.: João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da. Silva. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Coleção Pensadores, São Paulo, 1973
VOSOUGHI, S., ROY, D., ARAL, S., The spread of true and false news online, Science 09 Mar 2018: Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146–1151
CASTELLS, M. O Poder da Identidade — A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, volume 2. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
QUEIROZ, L. R. IPhone, Android, e a consolidação da cultura do smartphone: o papel do IPhone e do Sistema Operacional Android como catalisadores da consolidação no mercado de smartphones em escala global. R. Tecnol. Soc. v. 14, n. 30, p. 47–70, jan./abr. 2018.