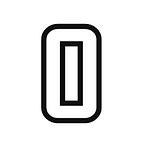Aldeia em cena
Há vinte anos Mari Corrêa forma cineastas indígenas no Xingu para que suas vozes transponham as fronteiras do parque. Agora, é hora de ouvir as mulheres
texto Fernanda Nascimento
fotos Thays Bittar
Ela não queria simplesmente ensinar os índios como operar uma câmera. Para a cineasta Mari Corrêa, o vídeo é uma arma poderosa e uma maneira dos povos indígenas registrarem sua cultura e defenderem os seus direitos. Nas oficinas que realiza nas aldeias desde 1998, ela forma cineastas capazes de contar sua história para pessoas a milhares de quilômetros de distância.
Mari produziu, dirigiu e editou mais de 30 filmes, vários deles em parceria com realizadores indígenas que passaram por suas oficinas. Por dez anos ela foi codiretora da ONG Vídeo nas Aldeias, até criar em 2009 o Instituto Catitu. Entre os projetos que realizou à frente da organização que fundou estão a formação audiovisual das mulheres indígenas e as rodas de conversa das mulheres xinguanas, que buscam fortalecer o protagonismo feminino.
Dois anos atrás, a cineasta foi à Conferência do Clima, em Paris, para exibir o documentário Para Onde Foram as Andorinhas, que revela como os efeitos das mudanças climáticas estão interferindo na vida e na cultura dos povos indígenas. Seu próximo projeto é de novo dar voz às mulheres, desta vez para entender como elas estão sentindo as consequências dessas mudanças na sua relação com a terra, a natureza e o cotidiano.
Há vinte anos você forma cineastas indígenas para que eles possam compartilhar sua visão de mundo. A imagem que temos do índio ainda é muito deturpada?
Existem duas visões que coexistem e são baseadas numa imagem totalmente falsa. Primeiro o discurso dos fazendeiros, madeireiros, garimpeiros e toda a politicagem da vizinhança, que disputa o território com os índios e acha que eles são atrasados, um obstáculo para o desenvolvimento. Esse discurso não só não mudou como está cada vez mais forte. Já entre os habitantes das cidades existe a imagem de um índio idealizado, da floresta, de cocar, sem relógio e que não fala português. Mas esse índio não existe mais. É como se a gente tivesse que se vestir até hoje como na época da colonização, com os homens andando com as roupas do Pedro Álvares Cabral. Os índios podem estar no meio do mundo urbano e manter características de sua cultura que o fazem se reconhecer como tal. A imagem idealizada, desse índio “puro”, é o que nega a ele a cidadania.
Seu primeiro contato com o Xingu foi em 1992. O que você sentiu quando chegou lá?
Não tinha a menor ideia de como era uma terra indígena e nem que aquilo ia se transformar na minha razão de viver. Quando cheguei, tive uma sensação de familiaridade com aquele lugar, me senti muito em casa. Eu queria fazer um filme sobre a relação entre a medicina ocidental e a cultura indígena e conheci um pajé kaiabi que viu ali a oportunidade de deixar um testemunho para os seus descendentes. Eu morava na França e durante cinco anos fiquei indo e vindo para gravar. Quando ficou pronto, o filme [O Corpo e os Espíritos] foi premiado no festival de Jean Rouch e começou a circular. Antes mesmo de eu decidir que ia continuar trabalhando com isso me convidaram para fazer um filme sobre a questão indígena na América Latina.
Essa foi a oportunidade de se aprofundar mais nesse universo?
Eu resolvi fazer um filme para falar sobre identidade indígena, como alguns povos estavam se relacionando com o mundo exterior e como se viam no mundo contemporâneo. Sair da ideia do índio do passado, clichê e passar para uma coisa mais real. Não queria gravar com grandes estudiosos, a ideia era dar voz a eles. Sempre tive essa preocupação. E daí nasceu o filme, que se chama Vozes Indígenas.
De onde surgiu a ideia de fazer oficinas para formar realizadores no Xingu?
Enquanto eu estava produzindo O Corpo e os Espíritos no Xingu, trabalhava na França no Ateliê Varan fazendo formação de documentaristas. Me convidaram para dar uma oficina na Nova Caledônia com um povo tradicional chamado kanaki. Foi muito bonito porque a transmissão de conhecimento entre os mais velhos e os jovens estava enfraquecida e o processo do vídeo fez com que eles se reaproximassem. Essa experiência me deu vontade e inspiração para fazer algo semelhante no Brasil. Eu queria voltar ao Xingu para formação de realizadores indígenas.
Como isso se concretizou?
O pessoal do Ateliê Varan me falou sobre o trabalho do Vídeo nas Aldeias e eu fui lá conhecer. Naquele tempo eles não tinham essa coisa de fazer filme de índio, não editavam o material produzido por eles. Era mais a ideia do registro, da troca de experiências para um povo conhecer o outro. Mas eu queria fazer formação de realizadores indígenas. Um ano depois, surgiu a oportunidade de montar uma oficina no Acre durante uma formação de professores indígenas.
E deu certo?
Eram cinco professores indígenas, um de cada etnia. Nós tínhamos duas câmeras VHS. Como o curso acontecia em um sítio, e não no ambiente da aldeia, decidimos registrar o que estava acontecendo ali. E foi incrível. Daquela experiência de dez dias saiu um filme e deu para perceber que era possível aquele jeito de fazer, da experimentação, de dar a câmera na mão e depois conversar. A partir dali resolvemos fazer oficinas nas aldeias e por um período mais longo. Primeiro fomos para uma aldeia ashaninka, no Acre. Para poder editar na aldeia a gente pegava aquela canoinha com uma máquina enorme e as fitas VHS dentro de um isopor derretendo no calor. Não sei como dava certo.
Como funcionavam as oficinas de formação?
Essa coisa da técnica eles pegam muito rápido. A questão não é tanto como você aperta o botão e muito mais como você se coloca em relação àqueles que vai filmar. Eu tinha alguns dogmas como, por exemplo, não filmar de longe. Você não põe uma teleobjetiva na câmera e filma escondido a mulher que está tomando banho. Se ela deixar você filmar, então é porque está compartilhando com você sua história. Se você tem que se esconder, alguma coisa está errada. Só se esconde de onça, de gente não. Claro que o material tinha que passar por uma edição para poder atingir o público leigo e a gente fazia muita questão de não deturpar o que eles estavam dizendo ali. Quando dava, a gente fazia a edição na aldeia, senão convidava eles para ir editar na sede do Vídeo nas Aldeias.
A oficina para mulheres realizadoras indígenas só aconteceu em 2009, mais de dez anos depois das primeiras experiências de formação no Xingu. Por que elas demoraram tanto para participar?
Quando cheguei no Xingu, nenhuma mulher que conheci falava português. Os homens eram os interlocutores e faziam a ponte entre a aldeia e o mundo não-indígena. Então eles começaram a ter mais acesso às coisas dos brancos. No começo isso significava fazer a comunicação via rádio, depois dirigir os barcos a motor… Tanto é que os Villas Boas inventaram caciques, que não eram obrigatoriamente os chefes tradicionais, mas pessoas que se sobressaíam nessa interculturalidade. O domínio do mundo do branco deu um poder ali dentro que não existia.
Por não falar português, as mulheres não tinham as mesmas oportunidades?
As meninas foram dominando esse mundo num processo muito mais lento, o que acabou criando uma assimetria enorme. Por que elas não podiam ser agentes de saúde, professoras, cineastas indígenas ou o que elas quisessem? Porque não tinham acesso, porque ninguém estava propondo para elas. A mulher é muito valorizada no mundo indígena, ela não é uma subalterna do homem de jeito nenhum. As relações de poder são diferentes, mas elas têm seu espaço. Se não podemos falar em machismo no mundo indígena tradicional, passa a existir uma certa forma de machismo quando se começa a incorporar coisas do mundo de fora. Elas perderam por causa do contato.
Como você conseguiu finalmente levar as mulheres para trás das câmeras?
Eu sempre chamei as moças para participar das oficinas, mas nenhuma aparecia. Aí pensei: será que se eu criar uma formação audiovisual só para as mulheres muda alguma coisa? Porque os homens sempre tomam a dianteira. Fui à um encontro de mulheres e levei as câmeras. Lá tinham muitas lideranças e todo mundo me conhece, então aproveitei para propor uma primeira experiência. Pensei que viriam mocinhas, mulheres solteiras… Mas a vontade era muito maior que eu imaginava. Uma delas estava lá com o neném no colo e a câmera na mão. Aí eu vi que era isso mesmo que estava faltando, criar um espaço só para elas.
Você convidou a cineasta Tata Amaral para participar da primeira formação de mulheres, que resultou no filme A Cutia e o Macaco. Como foi essa parceria?
Eu queria desmistificar a ideia de que tem que ser jovem para fazer filme. Queria que as mulheres mais velhas participassem porque são elas que conhecem a história. Nem sempre o diretor é o cinegrafista e a Tata é uma cineasta que não pega na câmera. Ela conseguiu uma abordagem para mostrar isso. A gente produziu um filme com mulheres de 18 a 70 anos participando. O período da oficina coincidiu com uma expedição que os homens iam fazer para o território antigo deles fora do Xingu, então na aldeia ficaram praticamente só as mulheres. Não tinha nenhum realizador homem, ninguém para competir, foi muito bom. Depois levei a oficina para outras aldeias.
Além das formações, seu trabalho com as mulheres continuou com o projeto das rodas de conversa. De onde surgiu essa iniciativa?
Elas me pediram apoio para fazer um encontro de mulheres do Xingu. Queriam falar sobre questões como a saúde da mulher e sobre uma associação que já tinha sido criada, mas estava parada. Quase 300 mulheres se reuniram na cidade, em Canarana, com toda a logística que isso demanda. Eu participei e sugeri fazer um projeto itinerante. Se a associação quer representar as mulheres do Xingu tem que ir até elas porque o território é muito grande. E aí nasceram as rodas de conversa das mulheres xinguanas. A associação definiu como sua missão dar voz às mulheres, porque atualmente muitas decisões são tomadas sem consulta-las. Nas questões da comunidade elas são influentes. Mas não nas decisões políticas, regionais, dentro da governança do Xingu. Por exemplo, um dos temas recentes é o turismo em área indígena. É algo que impacta diretamente sobre elas e elas não foram consultadas. Então as mulheres reivindicam mais espaço nessas esferas de discussão.
No seu documentário mais recente, Para Onde Foram as Andorinhas, você retrata o impacto das mudanças climáticas no Xingu. Você já vinha observando esses sinais?
O impacto do aumento da temperatura é ainda mais forte na região por causa do desmatamento do entorno. Quando você olha o Xingu, vê que ele virou uma ilha no meio de um grande deserto. Eu sentia que o calor estava aumentando e o rio secando, mas muitas das mudanças são sinais. Para vários povos, a floração dos ipês anuncia a chegada das chuvas e é a época em que eles começam a plantar. Mas esse indicador não está mais funcionando, então eles plantam, o sol continua forte e queima as mudas. Se a roça não vinga, há um impacto na segurança alimentar dos povos. Outro sintoma são os incêndios florestais. Há centenas de anos os índios dominam o uso do fogo para fazer a queimada, mas hoje eles perdem o controle porque a vegetação está muito seca e não reage da mesma maneira.
O que pode ser feito para reverter isso?
Há coisas que não tem retorno, então hoje se fala muito sobre adaptação. Os povos têm que mudar algumas práticas que sempre funcionaram e hoje não funcionam mais. Eles têm um conhecimento inacreditável do ecossistema onde vivem e colocar isso em cheque é bastante triste, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Existem práticas que vão ter que ser revistas, como é a questão da água para nós. A diferença é que eles não têm culpa nenhuma nessa história.