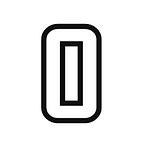Feminismo além do tempo
Fundadora da Think Olga e Think Eva, Juliana de Faria sabe exatamente o que as mulheres querem: respeito e direitos iguais
texto Eloá Orazem
fotos Thays Bittar
O futuro é feminino porque Juliana de Faria é (e está) presente. Jornalista formada pela PUC, a paulistana traz no currículo passagens por grandes redações da mídia nacional, mas passou de entrevistadora a entrevistada quando criou a Think Olga, em abril de 2013: trata-se de uma organização que dissemina o empoderamento feminino por meio da informação — e da educação.
Disposta a tornar passado alguns dos maiores desafios da sociedade moderna, como o machismo, o feminicídio e a discrepância salarial entre gêneros, Juliana estendeu sua causa à Think Eva, uma espécie de consultoria que afina a comunicação de marcas e empresas para que estejam sintonizadas com os direitos e as reivindicações das mulheres.
Correndo contra o tempo em uma luta atemporal, Juliana de Faria é dessas poucas que se tornam mulher não à força, mas por causa dela.
Passados alguns anos de Think Olga, não podemos evitar pensar que você aprendeu muito sobre o movimento feminista ao longo do caminho…
Muito mais do que eu imaginava! Por mais que eu tenha experiência de ser mulher nesse mundo, tenho uma única experiência, que é a de ser a mulher que sou: branca, hétero, classe média, cis. E graças ao Think Olga eu me aproximei de mulheres maravilhosas, com experiências diversas. Mulheres até semelhantes, mas que me ensinaram muito. Pessoas que tiveram a paciência e a generosidade de compartilhar suas vivências.
E sempre foi muito claro que o projeto deveria ser colaborativo?
Desde muito cedo eu entendi que a Olga precisava ser um projeto colaborativo, justamente por isso: se eu quisesse falar com mulheres e falar sobre as mulheres, essa pauta não poderia sair só da minha boca para que fosse um debate relevante. Então sempre foi um projeto muito colaborativo. A gente está sempre de portas abertas para textos de pessoas que queiram participar e se voluntariar. Quase todas as nossas campanhas contam com a participação de outras pessoas; não é unilateral. A campanha Chega de Fiu Fiu, que fala do assédio sexual em lugares públicos, por exemplo, é muito aberta e conta com vários depoimentos. Não fossem essas participações e depoimentos, qual seria a sua força?
Falar sobre feminismo e sobre a experiência de ser mulher é algo um pouco delicado, porque algumas discussões tendem a ser calorosas — e até agressivas. Nunca teve medo das críticas?
Bem, eu imaginava que as críticas viriam de uma parte da sociedade; que viriam da parte da sociedade para onde eu estava apontado o problema. Acreditava que pelo menos metade da população estaria do meu lado — e foi então que ficou clara a minha inocência, porque a gente recebe muitas críticas de mulheres. O primeiro comentário violento que eu recebi no Chega de Fiu Fiu foi de uma mulher falando que queria que eu morresse estuprada. Isso jogou luz na minha ingenuidade e me fez lembrar do óbvio: nós nascemos numa sociedade opressora, e assim fomos criadas. É complicado. Hoje, anos depois, claro, a gente ainda recebe um comentário chatinho aqui e outro ali, mas mudou muito o cenário. A gente não recebe mais xingamentos e ameaças, é muito interessante.
O que você diria para as tantas mulheres que ainda têm medo de denunciar os abusos que sofrem, e se sentem acuadas demais para dizer o que verdadeiramente pensam?
Putz, é complicado, porque é óbvio que quero ter uma mensagem de coragem, mas eu compreendo. Sempre soube que a internet era violenta, mas só dá para ter a ideia verdadeira de como essa violência é dolorida quando ela acontece com você. Sério. Quando eu fui alvo dessa violência, no começo da campanha Chega de Fiu Fiu, fiquei uma semana de cama.
Então você acha que vida online e offline se misturam…
Acho importantíssimo que falemos disso, porque muita gente diz “ah, mas internet não é vida real”, é sim, é vida real. Tem a vida online e a offline, e ambas são reais. A gente trabalha na internet, fala com os amigos, troca informação e tem gente que até namora na internet — então, claro que é real. E não adianta falar “então apaga seu e-mail e deleta seu Facebook”, porque não faz sentido algum; é como falar “então volta para casa e não sai na rua”. A gente tem que entender que é um espaço que precisamos ocupar, mas sem prejudicar a nossa saúde. São cinco anos de Olga, colocando a cara para bater e batendo muito também, abrindo portas — e algumas no chute. Mas é muito importante que saibamos o momento de nos cuidar, de dar um passo para trás, respirar, e depois continuar com mais força e mais certeza. Mulheres, em linhas gerais, precisam se cuidar para que continuem lutando por anos e anos.
Nada na sua vida deve ter passado intacto ao longo dessas mudanças externas e internas — tanto na sua carreira quando na sua vida. Você e seu marido têm essa discussão sobre o papel de cada um, sobre a questão do próprio feminismo?
Ele foi, literalmente, o meu primeiro apoiador, porque eu tocava a Olga sozinha. Sempre me ofereceu um suporte imenso, mas é óbvio que é um processo muito rico de desconstrução pros dois: de entender o que trazemos desse ambiente que é negativo e como a gente pode aprender, junto com esse caminhar da Olga, para que as nossas vidas sejam melhores, como casal, e também fora disso. Mas, olha, tem muitas coisas a serem observadas. Quando o Chega de Fiu Fiu saiu, até mesmo amigos nossos e amigos dele tiraram sarro, não levavam o projeto a sério, e ele sempre defendeu a ideia e a causa, porque ele realmente entendeu a violência que eu sofria na rua. E homens muitas vezes não sabem, né?
Você acha mesmo que homens não sabem?
Esse foi um grande aprendizado meu: homem às vezes não tem ideia desse assédio que a gente sofre na rua; dessas violências que a gente sofre, porque, quando estamos com eles, essas coisas não acontecem. Quando eu me abri e contei sobre as violências que eu sofria, meu parceiro entendeu completamente, e foi um grande defensor. Então, na minha cabeça, nossa, eu lembro muito disso, como ele sempre esteve ao meu lado e foi um grande aliado da campanha; alguém que cumpriu o papel dele de homem: nos grupos de homens de que ele participava, levava a palavra da campanha, defendia e tentava trazer esse debate à tona de maneira muito positiva.
Você é idealista, acha que em poucos anos teremos uma igualdade não plena, mas, pelo menos, mais aceitável?
Uma vez eu participei de uma palestra, sei lá, acho que da ONU, e alguém falou isso: se a gente batalhar muito, a equidade entre homens e mulheres vai chegar em 80 anos. Eu quase chorei, pensando que não vou viver para ver essa mudança. Mas, ai, é isso: a gente planta a semente para outros colherem. Se eu me apegar a isso de “não vou ver, não vou ver”, vou deitar na cama e não levantar mais.
Mas concorda que alguns avanços já são palpáveis, né?
Uma vez dei uma entrevista, acho que pro The Guardian, que mexeu com a minha cabeça. Durante o papo com a jornalista, ela disse que a Chega de Fiu Fiu não mudou o mundo, afinal, as mulheres ainda são assediadas e a violência ainda existe. Hoje eu tenho clareza para entender que o mérito da campanha foi ter mudado a cabeça das mulheres, dando a elas o entendimento de que esse assédio é, sim, uma violência, e que nada disso é nossa culpa. Então, sim, ainda somos assediadas; ainda há violência; sofremos opressões, mas tem um valor imenso quando a gente consegue nomear essa violência, nomear esses gaps e opressões, porque acho que é o primeiro passo para a mudança. Então, sou otimista, porque foi muito rápido como essa discussão ganhou maturidade e força. Me agarro a esses pequenos passos.
Entre tantas campanhas, palestras e seminários, vocês entraram em contato com histórias diversas — e algumas compartilharam com maestria. Teve alguma história que você achou pesada demais para tornar pública?
Muitas, principalmente quando a gente fez a campanha Meu Primeiro Assédio, que falava sobre assédio sexual na infância — e isso não acontece na rua, mas em lugares de confiança, com homens de confiança: pais, padrastos, avós, professores, tios… Acho que por isso a campanha foi tão catártica também, porque as mulheres começaram a compartilhar histórias que acho que elas nunca tinham contado para ninguém, e estavam falando publicamente, com a hashtag. Olha, quando psicólogos descobrem que estamos por trás da Primeiro Assédio, eles relatam que, na época da campanha, o consultório bombou. Pra mim, pessoalmente, foi muito difícil: você está ali, liderando uma campanha, ouvindo histórias de milhares de mulheres, algumas que você conhece e nem imaginava, ali na frente da batalha tentando lidar com muitas sombras, com muitas dores…
E tudo isso nunca te provocou uma raiva? Nunca se condensou em um quase ódio para com os homens?
Sim, e eu acho que é saudável que a gente tenha essa raiva. A gente até teve uma pequena campanha na Think Olga, com alguns textos pelo Facebook, bem pequena e pontual, chamada Raiva com Razão. Quando alguém fala sobre paciência, já logo aviso que não dá para exigir de so-bre-vi-ven-tes paciência para explicar sobre a violência que sofreram. Então, claro que eu tenho raiva, tem dias que, nossa, parece que não vale a pena. Mas você me entende? Veja: 200 meninas sumidas, raptadas pelo Boko Haram. Meninas de 11 anos. O que é isso?! Para onde estamos indo? Eu tenho minha raiva, é uma raiva saudável de se ter, e é ela que nos move para buscar mudanças.
O que fazer quando as pessoas não estão dispostas a ouvir? Ou você acredita que tem gente que é caso perdido?
Quem tem energia para nunca fugir dessa luta? Não dá para catequizar um por um. O que eu penso é que tenho o privilégio de ter uma plataforma que é a Think Olga, onde a gente cria conteúdo e tenta falar de uma forma mais ampla, coletiva. Mas não vou ficar parando cada um que me xinga na rua e falar “não, calma, vem cá que eu vou te explicar” — também não sou professora particular, né? Ninguém tem tanto tempo e saúde mental pra isso.
E você acha que existe alguma coisa como um feminismo “extremo demais”?
Olha, acho que estamos falando sobre temas extremos demais, estamos falando sobre vida ou morte. Estamos falando sobre feminicídio, sobre castração de meninas, sobre racismo — todos temas extremos. É muito engraçado que, quando a gente fala sobre a nossa luta por direitos, ela parece extrema, mas os problemas que estamos enfrentando, não. Nada é feito no vácuo, isso vem de muita for. Toda luta vem de muita dor. Os tons com que elas vão ser faladas pode variar muito. Às vezes eu tenho mais dor, às vezes consigo ser mais analítica, mas nada é no vácuo.
Você acha que a manutenção do machismo na nossa sociedade passa pela religião?
Acho assim: passa pela forma como a religião é “utilizada”, como ela é “aplicada”. Eu conheço uma mulher que é uma das fundadoras do grupo Católicas pelo Direito de Decidir, que é o grupo de mulheres católicas a favor da descriminalização do aborto. Então, pô, a gente tá falando sobre catolicismo! A gente também publicou uma matéria sobre uma garota bem jovem, evangélica, que mora no Rio de Janeiro, e que trabalha espalhando a mensagem do feminismo dentro da comunidade dela. Saiu uma matéria na BBC também, sobre meninas evangélicas que são feministas. Então, a questão é falar de como a religião vem sendo usada, e não sobre a religião em si, porque a gente tem exemplos de que isso pode conviver muito bem.
E todas essas experiências multidisciplinares colocaram em xeque seu amor pela moda? Afinal, você é jornalista especializada na área…
Eu amei muito quando estudei moda em Londres porque também foi uma primeira portinha para falar sobre mulheres, só que esse jornalismo mainstream pode ser muito limitador. Ele pode ser muito violento para mulheres, não só pelo padrão de beleza, mas também pelo lado da mão de obra barata — não tem como ignorar isso…
A relação com as mulheres mudou a partir disso tudo?
Acho que se intensificou. É mais uma relação de compreensão, eu diria. Toda nós somos vítimas. Todas nós estamos em posição desfavorável na sociedade, e tento entender como essas dores trabalham contra a gente. Quando uma mulher critica o meu trabalho porque ela é contra o feminismo, eu tento entender de onde vem isso, e por que vem isso.
Você reconheceu que algumas coisas que fazia com seu corpo — sei lá, usar maquiagem ou salto alto — não eram exatamente o que te fazia bem, eram mais uma questão de aceitação social?
Sim! Nunca fui muito vaidosa para ser bem honesta, eu não faço a unha… Mas não é que eu seja contra, é que tenho preguiça mesmo de ir até o salão. Mas, por exemplo, depilação. Eu ainda me depilo, porque é como eu me sinto mais confortável — e eu sei que me sinto confortável me depilando porque é um padrão social, mas tenho muito mais tolerância. Às vezes aparece um ou outro pelinho aqui e eu deixo pra lá. Eu percebi, nessa jornada, que minhas escolhas para roupa são roupas muito mais folgadas. Não uso muito decote, não uso roupa colada, mas isso também é um reflexo das histórias que eu vivi frente ao assédio, e uma forma de me esconder. Agora já passou tempo demais e é como me sinto confortável, mas é um reflexo de dor, né?
Ao mesmo tempo em que tantos projetos possam ter sido libertadores, você teme que isso vire uma “gaiola de ouro”, porque você vai estar sempre associada ao movimento e sempre associada à liderança?
Não me sinto assim. Acho “sempre” uma palavra tão forte… As coisas mudam muito rápido. Talvez amanhã ninguém esteja mais me ligando, interessado na minha história. Até porque acho que minha história pessoal não é o mais importante, o legado que eu gostaria de deixar independe da minha história como Juliana, mas das campanhas que a gente fez, das pessoas que mobilizamos.