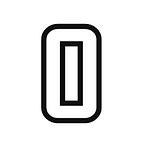Victor Apolinário: Cemfreio, mas com lacre
Uma conversa com o estilista que está descosturando os conceitos da moda brasileira
texto Eloá Orazem
fotos Thays Bittar
O Ministério da Saúde (deveria) adverte(ir): conversar com Victor Apolinário pode causar expansão da consciência e restauração da fé na humanidade. Ao menor sinal de comoção, um profissional deverá ser consultado — de preferência um terapeuta.
“Preta, periférica e viada”, o paulistano de 23 anos que chama a si mesmo por nomes femininos transita entre gêneros como transita entre verdades absolutas — mas não ousa sair ileso desse espaço.
Sua marca Cemfreio é a cicatriz exposta dessas viagens entre extremos, e o caso é tão grave que já foi avaliado por especialistas, como a revista Vogue Itália. No Velho Continente, tal qual em Terra Brasilis, o prognóstico é o mesmo: estamos à beira de novos (e melhores) tempos. Não sem luta; não sem um lutador. Não sem ele/a.
Em toda entrevista com você, alguém pergunta sobre a questão da raça. Até parece que o tema virou lugar-comum na sua vida. Você ainda aguenta falar sobre isso?
Não é que eu não aguente mais falar, mas falar disso é uma porta, um ponto de partida — mas não um ponto de partida para discussão, entende? Acaba sendo um ponto e vírgula, um parêntese que se abre. Não necessariamente se chega à pergunta maior, sabe? O meu problema não é falar sobre isso, o meu problema é isso ainda ser um assunto. É isso ainda ser um viés de informação para muita gente, sacou?
E quando você acordou para a estrutura maior desse preconceito todo?
A partir do momento que você nasce preto e nasce viado, é intrínseco que você faça parte de um preconceito maior. Preconceito pelo único fato de estar vivo. A maior parte da minha formação acadêmica foram em escolas técnicas, e eu era a única preta favelada que tinha dentro de uma sala majoritariamente branca de classe média-alta — que era a galera que estava preparada academicamente para ocupar aquele espaço. Então, já acordava de manhã sabendo que ia levar um tapa na cara de alguém. São coisas meio veladas, que a gente não enxerga, mas são dificuldades — diria até micro-opressões –, porque você não pode partilhar das mesmas coisas que seus colegas, visto que a sua relação com o tempo e com o dinheiro são completamente diferentes. Esse é outro recorte que mostra como o racismo é estrutural.
Você enxerga ou vive isso na moda também?
Com certeza, e isso fica muito mais evidente na hora de conseguir financiamento. Quando eu comecei a trabalhar na área, pagava-se para um produtor coisa de 50 ou 100 reais por oito horas de trabalho editorial — isso quando o job era pago! É nesse momento que rola o deal breaker. O mercado de moda ainda é muito branco, muito elitista e muito colonialista, porque quem está criando, fazendo e se doando para isso, sobretudo para o mercado de criação que paga muito menos, é gente que tem dinheiro. As pessoas não te pagam — elas acham que é um favor você estar partilhando daquele espaço com elas. Ainda existe esse espectro de realeza na moda, que é totalmente utópico, uma vez que a moda não é nada sem as pessoas.
Logo percebe-se que você é uma pessoa que não se deixa abater facilmente…
Eu não posso! Estou lutando com um milhão de pessoas e comigo mesmo o tempo todo. Eu já bati muito a cabeça. Tenho cinco irmãos homens e fui criado em um ambiente heteronormativo, daqueles que acreditava que chorar não é para meninos. Convivi com essas verdades até os meus 14 anos, que foi quando eu decidi que queria estabelecer outras discussões comigo mesmo.
E você abraçou sua homossexualidade numa boa, mesmo sabendo que isso o colocaria numa posição ainda mais frágil?
Eu sempre tive uma cheerleader que me colocava para cima em tudo o que eu fazia: a minha vó. Foi ela quem me incentivou a buscar a formação técnica, quem me forçou a fazer faculdade. Tudo o que eu queria fazer, ela autorizava. Comecei a namorar garotos aos 14 anos e, embora ela achasse estranho, nunca foi proibitiva. Claro que, fora de casa, as coisas eram bem diferentes. Eu sempre joguei futebol, cheguei a ser federado, inclusive, e rolavam aqueles preconceitos de vestuário. Até as pessoas entenderem que a minha sexualidade não altera em nada minhas habilidades, foi um processo. É muito difícil tentar convencer as pessoas diariamente de que elas estão reproduzindo conceitos que me colocam nessa posição.
Foi isso o que te levou a fazer psicanálise?
Isso também. Que preto que você conhece que faz terapia?
Você teve que “educar” o psicólogo também?
Sim, tanto que já estou no sexto terapeuta. Chega um ponto em que eu canso de tentar convencer a pessoa de que aquilo que ela tá falando é uma grandessíssima merda baseada na minha vida. Ainda mais quando é um recorte muito psicossomático. Tem grupos e subgrupos, e ninguém pensa no esquema social, você pensa no esquema de todas as outras frentes. O recorte social e racial são sempre os últimos, até no divã.
Quando você começou a terapia?
Quando minha avó morreu, dois anos atrás, e eu entrei num processo de depressão. Foi dificílimo me reestruturar. Perdi meu chão. E então entrei nessas de me redescobrir, de entender o meu propósito. Foi daí, inclusive, que nasceu a Cemfreio. A marca é resultado dessa minha busca e meu processo terapêutico. E ela me colocou no trilho de novo.
Esse processo de cura pode ser um pouco pesado e até melancólico, mas a Cemfreio não parece ter esse peso...
A marca veio desse ponto contrário. Eu já estava tão bem, tão feliz comigo, que precisava descarregar tudo o que passei — não quanto ao luto, mas ao aprendizado. E também tem outro lance: não acho que a Cemfreio é criação minha, e eu nunca me coloquei assim. Todas as pessoas que estão ao meu redor me inspiram e participam, de alguma forma, desse processo. A marca é sobre pessoas, não sobre roupas. A roupa é uma ferramenta de conversa com as pessoas; uma ferramenta de conversa com outras plataformas, com pertencimento. Eu, enquanto negro, estar pertencendo a esse espaço de criação, saca? A roupa acaba se tornando um arquétipo terciário, tão relevante quanto todos os outros. E está me fazendo questionar muitas outras coisas, como o design, a economia e o próprio corpo.
Perder a sua avó foi o seu primeiro contato, digamos, mais próximo com a morte?
Foi meu primeiro contato com a morte, com a relação muito próxima com a escassez de vida. Minha avó passou por dois derrames nesse processo, e em ambos os casos ela voltou para casa e ficou ótima, maravilhosa. Depois de uma semana em casa, ela faleceu. Morreu dormindo. Foi preciso muita reflexão para eu aprender a reestruturar tudo o que eu tinha vivido, pois até então eu tinha uma pessoa que sempre me dizia que tudo ia dar certo, que eu deveria ir e deveria fazer. Sem ela eu precisei descobrir quem seria essa pessoa, quem me colocaria para a frente e para cima diante das maiores adversidades. A ficha caiu no aniversário dela. Peguei o telefone para ligar e… puff. Me dei conta de que ela estava morta.
Como foi para você ressignificar a morte, que passou de abstrata para concreta? E como foi vivenciar a depressão, que é tão cercada de mitos?
Até eu entender que estava em depressão, que aquilo era uma doença, demorou muito. Foram meses até eu reconhecer que era preciso pedir ajuda. Partilhar e vivenciar esse processo acabou sendo positivo, porque consegui entender que até mesmo algumas coisas que são impostas e pressupostas são maleáveis, e elas vão acontecer de uma forma que você não necessariamente imagina e, provavelmente, não vai estar preparado. Finalmente eu entendi que ela ainda é a minha maior cheerleader, que vai continuar sendo a pessoa que sempre vai me ajudar, porque ela me deixou muita coisa. Não é sobre presença, é sobre o quanto ela deixou em mim de verdades absolutas e de respeito a todas as minhas coisas, problemática e tempo.
Isso mudou a sua fé?
Eu sempre fui muito… não digo ateu, porque eu acredito numa divisão energética. A gente está num espaço em que dividimos energia o tempo todo, seja no olhar, no falar. É tudo vibração. Sempre acreditei nessas coisas mais “terrenas”, nunca pensei na vida depois. Mas acredito completamente que toda energia continua como uma onda. Isso me ajudou a repensar a minha religião; ou melhor, a me reaproximar da minha frente religiosa. E eu realmente estou posicionado de uma maneira muito mais convidativa a esse meu lado espiritual. Sou muito racional, mesmo sendo muito impulsivo.
Qual a sua relação com o dinheiro?
Eu só quero pagar todo mundo em dia e não passar perrengue, como eu ainda passo. Quero ir a um restaurante em paz, sabendo que eu não tô tirando o dinheiro de produção, o dinheiro das costureiras. Não quero ser rico, ter mais do que eu preciso. Quero só um canto para fazer as minhas coisas e para ter ao meu lado quem faça coisas maravilhosas também.
Você veio de uma comunidade da zona norte de São Paulo, onde existe muito aquela coisa da ostentação, mas parece que você não compartilha disso…
Na minha infância, a representação do sucesso que eu conhecia era o traficante. E o que ele vai fazer? Ele ganha muita grana, mas não pode meter umas viagens fodas, porque vão querer saber de onde ele está tirando tanta grana. Então ele faz a coisa acontecer dentro da favela — ele vai querer comprar o carro, vai querer ter a TV maior, e por aí vai, porque é a única frente de atuação da grana dele. Ele não pode ir para os Estados Unidos levando dentro da Bíblia 50 mil reais. Então ele tá fazendo a grana dele, mas tem que viver aquilo ali, acaba sendo uma prisão, de alguma forma, sabe? Mas essa acaba sendo a nossa referência de sucesso.
Mas como é que você não absorveu tudo isso?
Posso ser honesto? Eu até absorvi. Por muito tempo eu quis ser rico. Em São Paulo, você pode ter todos os recortes de minoria, mas se você tem dinheiro, bi, você é alguém. Passei muito tempo com o dinheiro me assombrando — e com a ideia do sucesso atrelado ao dinheiro. Mas eu descobri que a coisa mais gostosa do mundo é você partilhar; ter mais gente fazendo coisas também. Sei lá, eu consegui pagar mais para a minha costureira e sei que essa grana a mais vai pagar o inglês da filha dela, saca? Eu não quero reter dinheiro, quero que mais dos meus possam mais e tenham mais.
Como você enxerga a galera que vai para a comunidade fazer trabalho voluntário, para fazer “caridade”?
Ai, então. É um recorte difícil de discutir, porque em alguns momentos é algo positivo. Acho que o trabalho voluntário é muito bem-vindo quando ele não tem o viés de safári, sabe? “Ah, quero vir aqui e ver como é que é, como essas pessoas vivem”, e sair de lá e fazer uma exposição de foto. Criar um safári eu acho bosta, mas quando vem o recorte de oferecer auxílio e oferecer o seu tempo para ajudar outra pessoa, eu acho mara.
E você paga mais suas costureiras, né?
Pago mais as minhas costureiras porque eu sei que a gente só vai conseguir mudar a roda quando tivermos mais parafusos, sabe? A gente só vira o jogo de verdade quando a costureira não só costurar, quando ela não for só mecânica. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que arte não é intangível ou intocável, ou que é uma busca incessante. Ser artista pode ser, mas a arte não. Sucesso, pra mim, é fazer essa roda girar para o lugar certo. E eu não limito isso ao mercado de moda, viu? É uma coisa maior.
É possível ser feliz com todo esse peso?
A felicidade é muito relativa, ainda mais pra mim. O dia do meu desfile foi o dia mais feliz da minha vida, mas as duas semanas que antecederam o evento foram as duas semanas mais difíceis da minha vida. Meu trabalho com o mercado de moda tem sido essa brincadeira de estar muito feliz em alguns momentos e estar muito triste em outros.
Você sente que o mundo regrediu um bocado nos últimos meses? Não dá pra encarar as novidades políticas…
Isso sempre esteve aí, mas o avanço da extrema-direita é uma tentativa de abafar quem vem na direção contrária, que está fazendo mais barulho. Quando é que uma travesti ia questionar qualquer processo judicial, até o mesmo lance do nome social? Agora estamos reivindicando direitos básicos — e eu repito: direitos básicos, não privilégios. As barbaridades que aquele homem… ah, o Bolsonaro. As barbaridades que ele fala são a voz do pensamento de muita gente, isso é que é a verdade.
E o que você falaria para quem vive em uma bolha?
Faça-a maior. Não é preciso estourá-la, mas expandi-la. O que eles querem fazer é estourar a nossa bolha e nos deixar mais sozinhos e segmentados, mas divididos — e precisamos lutar pelo contrário. A gente precisa entender que tudo isso que a gente constrói no online é para estruturar o offline. São campos diferentes, mas têm que coexistir. A bolha tem que ser cada vez maior nas redes sociais, na comunicação, mas ela tem que se desmembrar para outras frentes, que é o vivenciar.
E você cria roupa agênero…
Não, os gêneros são uma construção social. Eu crio roupa para corpos, e as pessoas dizem que é agênero.
Você consegue mesmo se desprender dessa construção social?
Sim, e eu usufruo muito dessa minha liberdade do masculino e feminino. Eu consigo brincar com um lance de estar, em um dia, representando um homem cis e depois estar fluindo entre o feminino. Acho que tento imprimir isso na minha marca, imprimindo extremos e desestruturando alguns históricos de imagens muito fortes na memória cultural do brasileiro, sacou? Tipo, homem não pode usar vestido. Por que a gente não glorifica o acabado? Por que a gente nunca tentou encontrar no processo um lugar de beleza? Por que o na frente é na frente, e o atrás é atrás? Algumas das minhas calças têm o cós na parte de trás. Onde estão as nossas verdades absolutas? A gente pode reestruturar tudo isso.
Menino, tanta coisa e ainda tem a psicanálise. Onde você quer chegar com a sua terapia?
Eu quero conseguir colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir, sem ficar me questionando tanto.
Qual seu maior questionamento atual?
Se o meu pertencer ao espaço que eu pertenço hoje tem ou não auxiliado mais gente. Se eu estar aqui neste lugar ou não tem realmente mudado a vida de mais gente, e onde é que eu vou mudar a vida de mais pessoas.