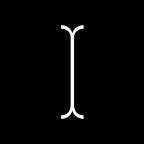A arquitetura do desaparecimento -Entrevista com Affonso Uchoa
Por Bárbara Bergamaschi e Duda Kuhnert
Affonso Uchoa narra histórias carentes de nomes e nomes carentes de histórias. Em seus filmes conhecemos vidas quaisquer que são, ao mesmo tempo, nada quaisquer. São homens ficcionais que moram em casas imaginárias, trabalham em fábricas e obras imaginadas. Ainda assim são absolutamente reais, de uma realidade que tende a desaparecer, salvo apenas as relações que constroem: essas não-imaginárias e tampouco perdidas. Aqui não se trata de contar os mitos dos desaparecidos e sim daqueles que retornam para contar a epopeia da vida cotidiana. O cineasta conta, mas também contam e cantam juntos Juninho, Neguinho e Rafael, diante da sua câmera.
Nascido em São Paulo, Uchoa é diretor e roteirista e vive em Contagem (Minas Gerais). Dirigiu o longa-metragem A Vizinhança do Tigre (2014), premiado na Mostra de Tiradentes de Cinema, no mesmo ano, e também em outros festivais como Olhar de Cinema, Semana dos Realizadores e Fronteira e exibido internacionalmente no Festival de Hamburgo (Alemanha) e em instituições como Barbican Centre (Inglaterra) e Anthology Film Archive (EUA). É co-diretor do longa Arábia (2017), junto com João Dumans, filme vencedor de cinco prêmios no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (2017) e exibido em mais de 50 festivais dentro e fora do Brasil, entre eles Festival de Roterdã (Holanda), Viennale (Áustria) e BFI — British Film Institute (Inglaterra). Na 23ª Mostra de Tiradentes de Cinema, realizada em janeiro de 2020, Uchoa contribuiu em diferentes funções em três produções exibidas no festival: Sete Anos em Maio, como diretor e roteirista; Sequizágua, como roteirista; Mascarados, como montador. Dentro da cobertura da mostra, Uchoa concedeu uma entrevista inédita para a Beira.
Em tempos de quarentena do COVID-19, os filmes do diretor foram liberados para visualização online gratuita pela distribuidora Embaúba Filmes até o final do mês de abril: https://embaubafilmes.com.br/
Bárbara Bergamaschi: Há um debate já, digamos, bastante tradicional no campo no cinema sobre como representar a violência sem contribuir para uma reprodução da mesma de maneira espetacular. Debate que gerou a famosa frase de Godard: “A moral é uma questão de travelling”. Pensando em Arábia e em Sete Anos em Maio, bem como em A Vizinhança do Tigre, acompanhamos a história desses personagens que vivem realidades trágicas, filmadas sem que isso descambe para uma catarse, melodrama ou mesmo uma redenção expiatória. Por exemplo, a cena de Arábia que Cristiano atropela um homem na estrada à noite sem prestar socorro, vemos uma violência que não é apresentada de maneira “pornográfica”. Gostaria de saber se há uma preocupação na sua pesquisa de linguagem de filmar de maneira “não-violenta” esses corpos. Há formas de pensar uma imagem como algo que não mimetiza a realidade, mas ao contrário, cria uma nova realidade?
Affonso Uchoa: A representação da violência nos meus filmes, e a preocupação na maneira de representá-la, não difere muito das outras representações, principalmente por trabalhar com um contexto real que me é muito caro. Muitas vezes trabalho com pessoas com quem minha relação vai para além da relação do trabalho. Como eu sei que o que une esses dois universos é a realidade social, ou seja, é o fato de serem os excluídos, de serem os pobres, de não serem os poderosos nem os donos do mundo, então a minha intenção nunca é fazer um filme que corrobora o estado em que o mundo os coloca. O mundo já os exclui, principalmente o mundo organizado nesse capitalismo avançado, reserva um espaço muito delimitado, inferior, subalterno para essas pessoas. Não tem sentido fazer um filme para subalternizá-los novamente. É preciso pensar uma outra perspectiva e fazer do filme uma oportunidade de não apenas apresentar um outro universo, mas também experimentá-lo.
Sem dúvida alguma, isso é uma questão ética. Começa no sentido da relação, mas também envolve outra questão, que é pensar em uma ética do procedimento. Não apenas a ética da relação, mas também a ética de como fazer. Isso é muito importante. Afinal, minhas intenções podem ser boas, não querer diminuí-los, mas isso não basta, sabe? Se ficar só nisso, eu estaria escrevendo carta de boas intenções e apresentando atestado de bom coração [risos]. Isso é pouco. A ética só se realiza quando ela passa pela linguagem e pela construção.
Para mim, a questão é um pouco brechtiana, pelo menos como percebo as teorias do [Bertolt] Brecht¹. Eu interpreto o distanciamento brechtiniano de uma maneira mais livre e própria. Para mim é como deixar evidente o gesto de construção, ou seja, é fazer com que o dado de construção esteja ali na tela, no que estamos vendo como representação. Assim não ficamos totalmente siderados, sugados, comovidos ou conduzidos pela imagem.
O desafio foi maior em Sete Anos em Maio porque é um filme baseado em uma história trágica, a partir de um evento absolutamente dramático. É uma história que, para mim, não tem nuance. É um absurdo, uma violência arbitrária e desumana. Como fazer um filme que não fosse apenas a exposição desse desumano que comove o espectador? Como fazer sem ganhar o argumento no grito? Ou sem conquistar a adesão do espectador, dizendo algo como “Tá vendo? Sofra! Tá vendo? Isso é comovente! Choque-se!”?. É uma condução sem crítica, comoção sem reflexão. É capturar o espectador só pelos sentidos e praticamente evitar que ele reflita sobre o que está vendo. É fazer um cinema baseado na excitação. É solicitar do espectador que ele se excite e eu não quero que ele só se excite, quero que ele entenda. Para pensar sobre essa sociedade, para entender o que é a imagem, é preciso entender qual mundo gerou aquelas imagens. Só entendemos o que está para além da imagem, o que gera essa imagem do mundo, se tivermos essa antena da reflexão ligada. Então, para mim, é questão de conseguir deixar claro que o que está ali é o filme operando sempre, alguma coisa sendo construída e sendo feita o tempo todo.
Contudo, a minha forma de deixar as marcas da construção são diferentes de um cinema mais experimental ou mais estrutural². Gosto de coisas mais sutis. Não coloco uma claquete ou a minha voz na cena, mas tudo isso está ali acontecendo. Existe um filme enquanto instância, existe o diretor enquanto olhar. Tudo isso está ali de uma maneira mais discreta, para que se perceba, por exemplo, que ao longo de 20 minutos o Rafael [personagem de Sete Anos em Maio] está falando e o espectador se dá conta: “não é possível que ele esteja falando sozinho, alguma coisa está fazendo ele falar desse jeito”. Essa coisa é o filme, essa alguma coisa é o cinema.
É nisso que tenho depositado o meu trabalho: deixar evidente, mas dessa forma mais sombria, de uma forma que se mistura na fatura do filme. Não se constrói como uma linha de fuga, uma linha de fora, que fica ali chamando atenção, pedagogicamente, para todos os elementos de construção. Vejo que busquei seguir esse princípio em relação à questão da violência nos meus filmes. Não quero repercutir ou ressoar as formas hegemônicas do cinema e, de forma alguma, comover o espectador pela justiça do tema ou do assunto. Quero deixar um espaço de reflexão que a instância do filme e a construção do cinema estivessem pulsando na imagem.
Duda Kuhnert: Certa vez li em uma entrevista sua que Sete Anos em Maio surgiu da notícia do desaparecimento do Rafael, que saiu de Contagem devido a uma ameaça da polícia. Em seus filmes parece que o movimento que mais importa não é exatamente o de mostrar e sim de apontar que existe algo escondido, algo que não é dito, que aparece nas entrelinhas, que não se revela por completo. Isso acontece tanto no elemento dos testemunhos, mas também na montagem, com suas elipses. Queria entender melhor esse aspecto da montagem e suas supressões e se faz sentido para você pensar nessa relação com as ausências que estão nas histórias de vida dos seus filmes.
Affonso: Sim, acho que faz sentido. Não é nada intencional, talvez seja na verdade um grande sinal de ausência de imaginação ficcional da minha parte [risos]. São figuras que se repetem nos filmes, em A Vizinhança do Tigre, Arábia e Sete Anos em Maio. Existem personagens que se vão, somem. Outros personagens que voltam, mas, sobretudo, personagens que vão. Talvez isso mude um pouco em Sete Anos em Maio porque o Rafael volta de alguma maneira, né? É possível encarar o filme como um retorno, como alguém que está voltando para contar aquilo que viveu enquanto esteve fora.
Duda: No Arábia o Cristiano [personagem principal] nunca volta. Os dois filmes têm histórias de pessoas que saem de casa de vez, né?
Affonso: Sim, faz sentido. Não é algo deliberado, mas realmente isso ilustra como eu fico girando ao redor de uma mesma coisa. Talvez por ausência de imaginação ou por alguma obsessão pessoal. Nunca parei para investigar, mas acredito que se relaciona com o imaginário que ocupa minha cabeça dos road movies, literatura americana e música folk. Também a música caipira brasileira, com suas canções de migrantes, que são histórias dos desregrados e dos degradados, daqueles que não tem pertencimento. Assim, sou cheio desse “sem-lugar” ou “entre-lugar”.
Sou um cara da periferia, mas fiz faculdade (numa época em que quase nenhum pobre ia pra faculdade), fiz cinema, frequento o mundo intelectual… Não me encaixo no estereótipo (restrito, claro) da periferia: sou branco demais, “estudado” demais, “playboy” demais… Tive mais privilégios do que, por exemplo, Neguinho, Juninho ou Rafael. Uma galera com a vida mais dura mesmo. Ao mesmo tempo, também não me sentia à vontade em todos esses universos da intelectualidade ou da arte. Me sentia mal na faculdade, por exemplo, não me sentia absolutamente pertencente, como se aquilo fosse meu de direito. Então, estou nesse “entre-lugar”, nesse movimento constante. Assim que eu me sinto e foi isso que gerou A Vizinhança do Tigre, por querer investigar esse tão longe e tão perto em relação à periferia. Talvez isso explique a presença dessas idas e vindas nos filmes e o movimento pendular da vida dos personagens. Tem a ver com minha relação com a periferia, quando percebo que a vida é inconstante.
Tenho lido muito [Roberto] Bolaño³ e vejo esse aspecto. Isso está bastante no livro Detetives Selvagens. Ali tem um propósito genial muito bem estruturado do desaparecimento como uma espécie de figuração da essência latino-americana. Entendi quando li os livros do Bolaño que a permanência na América Latina é um privilégio! Vivemos em uma sociedade do constante movimento: uma rua pode sumir, um prédio pode desabar, a arquitetura pode ser completamente modificada, de repente surge um prédio novo. Não existe respeito pela preservação dos espaços. Por exemplo, o Museu Nacional pegou fogo e nem sabemos o que vai ter no lugar. Isso é Brasil, isso é América Latina. Não temos direito à permanência, não temos direito de durar.
De alguma maneira, isso foi aparecendo ao longo do tempo, principalmente, nos filmes e também fui vendo isso no dia a dia no Bairro Nacional ou em uma periferia como Contagem. Isso se manifesta de várias maneiras, inclusive no ritmo de vida da galera. Por exemplo, eu ia na casa do Menor (Maurício Chagas, ator do filme) quando estava filmando A Vizinhança do Tigre e quando voltava na semana seguinte os móveis já estavam totalmente diferentes. Não existia uma continuidade, não tem como ter isso porque ele vendia, perdia ou então algo quebrava e comprava um novo. Tudo era instável, tudo é mutável. É uma poética da inconstância mesmo. É uma base da vida periférica, sabe? As vidas desses personagens são inconstantes, tanto o Juninho no A Vizinhança do Tigre, como o Cristiano em Arábia e o Rafael em Sete Anos em Maio. São vidas que têm que se arrumar no próprio movimento, têm que encontrar seu jeito enquanto está sendo vivida. Não tem plano, não tem estratégia.
Duda: Como aquela expressão: “Tem que trocar o pneu do carro em movimento”.
Affonso: Exato! Não tem planificação. Não existe longo prazo. São vidas que estão sujeitas à tragédia brasileira, como o Rafael que poderia ter morrido em 2007 e não morreu porque deu a sorte de ter sobrevivido a uma tortura. O que aconteceu com ele é uma falha porque o plano que existe é o do desaparecimento. Não existe um plano ou uma estratégia por parte da pobreza latino-americana com relação a própria vida, o que existe é uma arquitetura da destruição das elites brasileiras e latino-americanas em relação aos pobres. Uma arquitetura do desaparecimento e do extermínio. Eles sumirem faz parte do jogo. Isso é normal, natural, mas um rico sumir é um problema, um drama, dramaturgia de novela. Assim vemos o que faz parte do jogo e o que não faz, o que é previsto e o que é imprevisto, o que nos constitui. Por isso esses personagens somem, voltam, aparecem, perdem o rumo, encontram novos rumos, dão com a cara no muro, dão com os burros n’águas e tentam se renovar, porque é assim a vida deles. Isso é a vida do Rafael, do Juninho e de muitos moleques.
Bárbara: A ideia de mostrar pelo invisível e dizer pelo não-dito assim como a escolha pela desdramatização nos remete muito aos filmes do Robert Bresson, cineasta francês que opta por delegar ao imaginário do espectador o que se passa no interior das personagens. Em Notas sobre o Cinematógrafo, Bresson diz:
“Nada de atores (nada de direção de atores) , nada de papéis, nada de estudos de papéis, nada de encenação, mas a utilização de modelos encontrados na vida. Ser (modelo) em vez de parecer (atores).”
Há também nos seus filmes sempre um jogo cênico que embaralha as divisões de ficção e documentário, isso está no roteiro de Sequizágua⁴, por exemplo. Em alguns momentos há cenas que beiram a performance, o ensaio ou work in progress, como o jogo do morto-vivo em Sete anos em Maio. Você poderia comentar essa frase de Bresson e falar um pouco da relação que estabelece com os atores nos antes e depois dos sets de filmagem?
Affonso: É claro que eu e, no caso do Arábia, eu e João [Dumans, co-diretor do filme] temos alguma atração pelo cinema do Bresson. Inclusive O Diabo, Provavelmente (1977) foi um filme que vimos como parte do processo de pesquisa para o Arábia. Ao mesmo tempo, não é tão consciente assim, no sentido de querer emular uma representação, sabe? Tampouco valorar essa representação e afirmar que esse é o jeito que o cinema tem que lidar com os corpos. Embora exista uma contenção no aspecto ficcional dos meus filmes, alguma secura, isso vem de outro lugar, não tanto como faz o Bresson. Acho que o fundamental é o encontro entre as minhas obsessões e gostos de cinema com os corpos dos meninos. Uma coisa não pode se sobrepor à outra, é o encontro que faz acontecer a representação no filme.
Essa questão da encenação não é tanto teórica para mim, mas muito prática. Cada filme demanda uma forma específica de trabalhar com os atores e as atrizes. É uma busca por uma representação que, por mais que reflita meus gostos, ideias e preferências, também tem que ser justa com o corpo daquele que está interpretando. Não me sinto à vontade de constranger o corpo de um ator ou uma atriz com uma ideia previamente concebida. Meus filmes retratam um acordo, não uma imposição.
A desdramatização é o que gosto de ver no cinema. É potente porque estabelece uma relação diferente com o espectador. Os filmes naturalistas têm uma representação mais vibrante e eufórica, por isso acabam chegando um pouco naquele regime que falávamos antes. São encenações do impacto e o espectador acaba sendo conduzindo muito pelo efeito e no fundo o efeito maior que se constrói é o da verossimilhança. A interpretação mais seca, digamos assim, é como um combate em relação a isso, serve para desidratar um pouco esse fator de verossimilhança dos filmes e estabelecer outra relação com espectador. Uma relação de estranhamento mesmo, um certo desconforto e também uma forma de fazer o foco ser jogado para outro lugar. Por exemplo, a cena da demissão em Arábia é um momento tenso, um momento de combate bem declarado.
Para mim, isso é interessante pois começamos a olhar para outras coisas, saímos um pouco da narrativa, do fato em si, e começamos o olhar o espaço, por exemplo. O espaço é tão significante quanto a situação, afinal o poder do patrão está no espaço. Ele é o dono daquilo tudo, por isso o plano é aberto. Assim nos damos conta do dinheiro do patrão. O plano é dinheiro, o espaço é dinheiro. Se fechássemos em dois planos, um plano e um contra-plano no rosto dos personagens, mostrando os dois muito raivosos, essa dimensão do espaço se perderia. Acabaríamos substituindo uma excitação do acontecimento e não levando o olhar para outros lugares.
Também em Arábia, na cena do atropelamento, a reação do Cristiano e a descrição dele no off traz um momento de pragmatismo do personagem. Isso dá uma certa amoralidade para ele. Diante da tragédia ele tem um pensamento prático e se pergunta o que é preciso fazer para se livrar daquilo. Não é um cara que se compadece, chora, se desespera, encosta na roda do caminhão, deixa as lágrimas caírem e suja a camisa de sangue. É um cara que faz o que é possível para se livrar de um problema. Isso é uma dimensão interessante do personagem, contribui para des-heroicizar esse personagem. Ele não é tão trágico, não está pagando o preço de um erro. O preço já está dado, agora ele só precisa negociar a forma de pagamento. Por isso essa narração com uma descrição pormenorizada em primeira pessoa do que aconteceu e dos efeitos, com detalhes sobre o que deu para limpar, o que deu para esconder. É possível focar nisso com a desdramatização, trazer um aspecto menos heroicizado, menos dramático do acontecimento. Além disso, permite também entender que lidar com alguma atividade criminosa é na verdade trabalhar com um nível científico. Bem, aconteceu que esse personagem teve essa reação. É bom que ele tenha, porque esse personagem não é um santo.
Em geral, me sinto muito no começo do cinema ainda, não sei exatamente o que é o que eu faço. Não tenho nenhuma teoria geral a oferecer. Me sinto descobrindo e experimentando a cada filme, chegando mais perto de alguma coisa enquanto faço, enquanto vivo. Nesse sentido, algumas recorrências obedecem mais a algumas obsessões. São coisas que ficam na nossa cabeça e nos acompanham ao longo do tempo, que vêm de filmes que vimos, que amamos, de percepções que não esquecemos.
Duda: Falando na construção do personagem do Cristiano, algo que impressiona em Arábia é a sua complexidade e ambiguidade, no melhor sentido que a palavra ambiguidade pode carregar. Queria saber como foi criar o Cristiano. Foi construído junto com o Juninho [Aristides de Sousa, ator do filme]?
Affonso: Isso foi construído junto no sentido tradicional, sabe? Essa artesania da escrita é minha e do João mesmo, nós dois escrevemos o filme. Um dos fatores nós levamos em conta para compor o personagem era o próprio Juninho. A nossa percepção da pessoa que ele é, nosso conhecimento das histórias de vida que ele tem, a nossa relação com ele enquanto corpo, enquanto vida, enquanto presença. Isso não era o único fator porque junto disso vieram muitas leituras, nossas referências literárias, desejos, memórias pessoais, obsessões particulares de cada um de nós. Um caldeirão de coisas que juntamos. De modo que, na verdade, no final não conseguimos resgatar a origem, só sabemos lidar com a evidência, com aquilo que aconteceu. Então, o Juninho foi um fator importante para a criação do Cristiano. A escrita é nossa, mas sempre levando ele em consideração. É um personagem feito para ele.
Duda: A respeito do Arábia, em particular sobre o fim dele, chama atenção quando o Cristiano fala: “Queria puxar meus colegas pelo braço, dizer para eles que eu acordei, que enganaram a gente a vida toda. Mas tô cansado, queria ir pra casa. Queria que todo mundo fosse pra casa. Queria que a gente abandonasse tudo.”. Em meio a um contexto neoliberal, uma configuração social que é absolutamente inimiga da formação de um sujeito coletivo, de uma memória coletiva, que se sustenta na individualização do trabalho, vocês fizeram um filme como um contrafluxo disso, que é sobre, entre outros assuntos, a criação de laços afetivos, de encontros e relações que surgem através do trabalho. Como foi essa concepção?
Affonso: Como tudo em Arábia, essa questão vem de vários lugares. Certamente existe diferença nos pontos de partida meus e do João também nesse quesito. Para mim, isso veio da minha história de vida. A experiência do trabalho sempre foi muito fundamental para tudo o que via ao meu redor. A minha relação pessoal com essas coisas talvez seja mais de diferença do que de pertencimento. Nesse sentido, uma coisa que penso que pode ter sido importante é o fato de que não fui um trabalhador quando jovem. Meus pais queriam que eu conseguisse fazer faculdade, coisa que eles nunca conseguiram já que tiveram que trabalhar desde cedo. Lembro muito de entender o trabalho como um inimigo desse encaminhamento intelectual e artístico. De alguma maneira, fui conduzido e também me conduzindo a esse universo de negação do trabalho. Isso me separava do meu entorno. Meus amigos começaram a trabalhar cedo, alguns com 11, 12 anos de idade. Era o que tinha que fazer, não tinha escapatória. Esse universo surgiu na minha vida como algo que me circundava, como algo que via que era fundamental para tudo o que estava ao meu redor.
Mas de alguma maneira o universo do trabalho veio do próprio lugar, do espaço que escolhemos para fazer a história. Quando estávamos pesquisando os lugares, o João apresentou e sugeriu fazer o filme na Vila Operária de Ouro Preto, um lugar que ele tinha uma memória de infância. Fomos lá pensando que era um espaço potencial para o filme. Quer dizer, mais que isso, que a Ouro Preto do filme seria ali e não a Ouro Preto tradicional, a Ouro Preto turística. Imediatamente entendemos que tínhamos feito uma opção pelo assunto trabalho, porque isso marca a arquitetura, o ambiente, a forma das pessoas se relacionarem. A Vila Operária, desde o próprio nome até a arquitetura, nasce e, apesar de hoje não se sustentar, deve sua existência simbólica à fábrica, ao trabalho. Isso também é um fator muito fundamental.
O outro é a nossa percepção política em relação a esse universo. Percebemos que a figura do trabalhador estava - e está até hoje - nublada no debate brasileiro. É muito simbólico. Não estamos falando apenas da derrocada do PT [Partido dos Trabalhadores], não se trata apenas do abandono do partido em relação às bases trabalhistas e periféricas, da desidentificação dos trabalhadores com as questões trabalhistas stricto sensu. É também uma tentativa de entender onde nasce e quem se beneficia com essa indefinição sobre o trabalho. Por exemplo, o João Doria⁵ se apresentou na eleição paulista, em 2016, com o slogan “João Trabalhador”. Assim ele ganhou uma eleição, no primeiro turno, com voto da periferia, da Cidade Tiradentes, da Zona Leste inteira. Ou seja, com voto de lugares onde, de fato, estão os trabalhadores de São Paulo. Se um sujeito, que é claramente o patrão, se apresenta como trabalhador e tem o voto dos reais trabalhadores, é sinal que precisamos discutir e tentar entender o que é o trabalhador hoje, afinal essa noção foi perdida, já foi alterada.
O trabalho foi capturado pela meritocracia, pela ideologia neoliberal, e absolutamente associado ao lucro, não mais à sensação de pertença ou de construção pessoal. Isso é muito perigoso e nos fez criar um personagem que é a falha da meritocracia, afinal o Cristiano trabalha mais que todo mundo, se esfalfando dia a dia e sobrevive, única e exclusivamente, pela sua força de trabalho. E não ganha nada. Ele não tem mérito nem recompensa. De alguma maneira o que nos inspirou era a pergunta: o que é o trabalho? É essencialmente isso: o esforço sem recompensa. O esforço sem mérito, sem prêmio. O mérito do trabalho — do trabalho mesmo, não esse trabalho mítico que o liberalismo está querendo implementar socialmente — é outro.
Algumas reflexões partiram daquele contexto da Vila Operária, fomos buscando pensar essa figura do trabalhador como algo importante, ao mesmo tempo que ausente. O filme é uma resposta a um incômodo da ausência de discussão sobre o que é trabalho, sobre o que é o trabalhador, sobre a nova face dos trabalhadores e o que se perde nesse processo para propaganda do empreendedorismo, quando o trabalhador é substituído pelo empreendedor. O que é esse empreendedor? Trabalhador? Para quem? De que? Arábia é uma resposta a essa desagregação, a esse esvaziamento de sentido do trabalho, do reconhecimento do trabalhador enquanto tal nos dias de hoje.
Quando me mudei de São Paulo para Contagem, meu pai me levou de carro para mostrar o muro que ele tinha pintado quando chegou na cidade. Era um muro perto da estação de metrô Tatuapé, foi o seu primeiro trabalho na cidade. Vinte anos depois de ter chegado em São Paulo, era essa a imagem que ele levava da cidade, as marcas do seu trabalho. De alguma maneira, era aquilo que ele tinha vivido em São Paulo… Isso nunca saiu da minha cabeça. Ele podia se reconhecer e sentir orgulho daquele muro. É exatamente isso que se perdeu: a relação com as coisas que se produz. Daí para perda de consciência de classe é um pulo! O Arábia é uma tentativa de investigar o nosso próprio tempo e entender o que estava conduzindo para essa dispersão, para esse esvaziamento generalizado que vivemos. Tentamos fazer uma espécie de defesa daquilo que está sendo constantemente atacado, que é a sensação de pertencimento e de identificação, não apenas com aquilo que se faz, mas também com os outros que fazem a mesma coisa que você faz.
Duda: Podemos entender Arábia como um filme-diário, filme-confissão, filme-carta. Cristiano diz: “Eu sou igual a todo mundo, a minha vida que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante pra contar. Porque no fim de tudo o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou.” Também em Sete Anos em Maio o testemunho tem uma importância, com o longo relato do Rafael. A memória é elemento importante nos seus filmes, uma memória que é uma obra de ficção. Menos informação, menos dados da verdade, mais uma criação de memória, ligação entre dados, entre testemunhos. Queria entender melhor essa questão do testemunho, da memória para você e as instâncias do comum e do singular que estão presentes nos relatos, que aparece nessa frase do Cristiano.
Affonso: Isso varia entre os filmes. A Vizinhança do Tigre e Sete Anos em Maio são filmes em que a matéria da vida, a vida dos atores, é muito importante, mais do que em Arábia, por exemplo, que é uma criação minha e do João. O Sete Anos em Maio é o ápice da dependência e da aliança com a memória pessoal dos atores. Em A Vizinhança do Tigre é mesclado e em Arábia isso é um pouco mais difuso, está muito misturado com coisas nossas.
Além da memória, uma questão importante é a palavra. Nesse sentido, de alguma maneira, as duas coisas se conectam. Nesses filmes busquei deslocar o foco para o infra, buscar de fato a infra-história. A subjetividade de pessoas como esses personagens se marca naquilo que é considerado ínfimo, naquilo que é considerado pequeno, até mesmo desprezível. A historiografia dos pobres tem que atentar para aquilo que é jogado no lixo. Isso está marcado pelo caderno presente em Arábia, um objeto que só o acaso o salva do lixo, do limbo. O Arábia resgata aquilo que é destinado a esse limbo e dá a ele um lugar de destaque, de atenção.
A literatura é importante para mim e para os filmes que fiz. Escrever é uma das mais nobres e antigas formas de cumprir um sonho humano essencial, que é driblar a morte. Deixar algo escrito é uma forma de evitar que o pensado e o vivido morram. Vivemos em um mundo que reserva o acesso à palavra aos privilegiados. Mas os pobres, claro, acham outros jeitos de perdurar. Através da música, do graffiti, da pixação, pelas paredes, encontram outras formas de fazer com que a palavra encarne a vida.
Da mesma forma acontece com a música popular, a moda caipira, o folk americano, o rap. No filme Aqui Favela, o Rap Representa (2003), da Júnia Torres e Rodrigo Siqueira, um personagem fala: “O rap é a Bíblia da quebrada”. A mitologia, as histórias essenciais, as parábolas, os exemplos de comportamento, a memória que fundamenta os nossos comportamentos atuais está no rap. No interior isso aparece na música caipira, em Liu & Léu, em Tião Carreiro e Pardinho, no Trio Parada Dura. A forma de amar no interior brasileiro é moldada pela música caipira, pela música sertaneja. A música cristalizou uma experiência e agora ela molda as experiências seguintes, não tem jeito de separar mais.
O mesmo acontece com as cartas de prisão, os escritos de parede, a pixação, o graffiti. São demarcações de existências. São notícias de que continuamos vivos. Sobretudo, notícias de que eles continuam vivos, que eles existem, que eles não estão apagados nem desaparecidos. A memória vem junto, mas o que vem em primeiro lugar é a palavra. Todas essas manifestações de palavras que comentei, que estão presentes nos três filmes, são marcas de existências. Elas são comprovações de que eles não só não desapareceram como continuam muito vivos. Pensando, sonhando, amando, lembrando e dizendo alguma coisa.
Bárbara: Arábia nos parece um road movie mineiro, em que há uma preocupação de cartografar ou mapear esse estado brasileiro. As cidades são nomeadas…
Affonso: É tudo falso, mas está lá!
Bárbara: [Risos] E caímos, né? Pensamos em estado tanto no sentido de Minas Gerais, quanto o estado de ser, uma forma de estar no mundo. Gostaríamos de saber se essa era sua intenção, ao mostrar as diferentes paisagens de Minas, e principalmente ao deixar explícita a presença massiva e predatória das empresas siderúrgicas e de mineração no estado. Sabemos pelos historiadores que Minas é marcada pela história de homens que perambulavam pelas terras na febre do ouro. Eram pessoas sem raízes, literalmente pois não cultivavam ou plantavam, as cidades eram abandonadas à medida que o ouro ia acabando. A cena em que Cristiano fica quebrando pedras obstinadamente parece um gesto arcaico fundador desse estado. E os homens como formigas na paisagem, trabalhando exaustivamente. Você acha que poderíamos falar de uma subjetividade nômade mineira nos seus filmes?
Affonso: A desconfiança é uma parte fundamental da alma mineira. Mas, para além disso, o mineiro tem muita desconfiança quando tentam determinar o que é ser mineiro. Tem todos os clichês do pão de queijo, o pudor católico, a vida frugal, toda uma iconografia mineira do recato e da simplicidade. É tudo falso, mas verdadeiro também. Mas de alguma maneira me irrita essa vontade de pensar o que é mineiro por aí, pelo lugar comum. Vencendo essas resistências, acho que tem coisas que passam além do que pensamos. É o jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de existir e que está na paisagem, nas pessoas e marcado nos lugares.
Pensando a respeito da representação da periferia, a imagem tradicional de periferia, de favela, de quebrada, não se aplica muito bem em lugares diferentes do Rio de Janeiro e São Paulo. Os espaços simbólicos da pobreza e do precário urbano no Brasil dizem muito do contexto carioca e paulista e essa imagem acaba se espalhando para o resto do mundo. Por mais que cada periferia seja muito peculiar, todas as outras que não são Rio e São Paulo se unem no fato, justamente, de não serem Rio e São Paulo. Então, acredito que Minas aparece nos filmes, sempre vai aparecer. Está ali inerentemente, quer eu controle, quer não. Mas depende do espectador, o que é reconhecido como essencialmente mineiro talvez seja apenas a percepção de que não é o que está acostumado a ver, é mais a evidência da diferença do que a descoberta de uma essência em si.
Em relação ao Arábia, pensamos essa diferença de paisagens que você comentou como um percurso pelo trabalhismo brasileiro e pelas fases econômicas do Brasil. O Cristiano cumpre uma rota nacional. Claro que é localizada em Minas, mas o tipo de trabalho que ele faz é um resumo do perfil econômico do Brasil: agrário, indústria de ferro, indústria de commodities, construção civil. Ele vai crescendo e experimentando diferentes formas e vai passando por esses perfis. O que faz o Brasil ser o que é, de certo modo, é o que o Cristiano fez: minério, plantações, estradas. Ele também vai cumprir esse grande desenvolvimentismo das construções na sua trajetória.
É claro que isso é Minas Gerais porque, de alguma maneira, Minas é uma espécie de síntese do Brasil. A configuração do estado, a sua posição geográfica, ecoa a fala do Guimarães Rosa: “Minas são muitas”. O Norte de Minas Gerais é uma coisa, não tem nada a ver com o Sul de Minas, menos ainda com o Triângulo e nada a ver ainda com a Zona da Mata. Belo Horizonte e Contagem ficam no centro e estão conectados com isso tudo pelas migrações, pela confluência de gente de todos esses lugares. Tem o Triângulo e o agronegócio na enésima potência. O Sul que se comunga com o interior paulista, conservador e dum agrário antigo, cafeeiro. Já a Zona da Mata é bem carioca e, como o interior do Rio de Janeiro, uma zona muito siderúrgica. Tem o Vale do Aço, já saindo um pouco da Zona da Mata, mais perto de Belo Horizonte. Como o nome já diz, ali sai para produção e transformação o minério por excelência, é perto de Ipatinga, da Usiminas. Tem o Norte de Minas, que é muito baiano, é a terra do Sequizágua, que tem uma linguagem, um jeito de falar, bem peculiar. No entre caminho, entre tudo isso, ainda tem as partes de Cordisburgo, onde Guimarães Rosa escreveu. Enfim, é um estado muito múltiplo. Existem muitas faces do Brasil conjugadas dentro desse mesmo território. A multiplicidade acaba vindo nas imagens e acaba compondo esse mosaico porque Minas é um mosaico. Minas não é um inteiro.
Algumas outras coisas vão aparecendo de um jeito mais intuitivo. Por exemplo, não tem como se livrar de alguma ambiência religiosa quando se filma em Ouro Preto, como foi o caso de Arábia. É impossível. Não foi deliberado, mas hoje eu percebo no filme uma relação entre o trabalho e o cristianismo. O nome do personagem é Cristiano, né? Não tem como negar esses ecos. E nesse filme o trabalho surge na dimensão da penitência sempre. No final, o despertar do Cristiano é a consciência dele de que aquilo não é um trabalho, mas um castigo e o que está sendo solicitado a ele o tempo todo, e a todos os trabalhadores, é o sacrifício. Não tem nada mais cristão que isso. Talvez isso molde a essência do que é ser trabalhador hoje no Brasil: ser penitenciado constantemente sem nenhuma recompensa no final.
Outra coisa que é uma visão nossa de Minas Gerais é justamente bater nesse clichê da Minas bucólica, que interessa tanto aos paulistas e cariocas. Minas Gerais como um lugar de refúgio. Não tem refúgio. Atrás do bucolismo, atrás da paisagem calma, atrás da vida pacata, existe o inferno do capitalismo brasileiro consumindo a alma de todo mundo. As pessoas vivem ao lado de uma siderúrgica ou de uma mineradora, gente que está com a vida prestes a ser arrastada por um mar de lama e, se não for tragada pela lama, é intoxicada pela fumaça. Anos a fio, anos a fio… Isso está em Arábia.
Ali naquelas paisagens bonitas, que são ótimos lugares para as elites paulistas e cariocas relaxarem e passarem férias, existe também o “país do desastre”, esse Brasil que permanece anônimo até que se converte em catástrofe. A conjunção entre calmaria e ameaça é Minas Gerais. Onde se imagina que exista a paz, não só a da paisagem, mas também paz de espírito, vive o Cristiano, que é um personagem, de alguma maneira, atormentado. Tudo isso para dizer que a Minas Gerais do Arábia e,também dos meus outros filmes, de forma deliberada ou não, aparece como uma tentativa de pegar pelo contraponto. A ideia é quebrar um pouco essa imagem pacata, idílica, bucólica de Minas Gerais e ver ali um estilhaço, uma perturbação. Um inferno.
1. Bertold Brecht (1898- 1956) foi dramaturgo, poeta e encenador alemão. Seus trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo, tornando-o mundialmente conhecido a partir das apresentações de sua companhia Berliner Ensemble. Conceituou o teatro épico bem como o conceito de estranhamento, o V-Effekt ou efeito V (do alemão Verfremdungseffekt). O “efeito de estranhamento” ou “efeito de distanciamento”, também chamado de “quebra da quarta parede”, tinha como objetivo chamar a atenção do espectador para a encenação e para o caráter ilusório da representação naturalista.
2. No final dos anos 1950, vários realizadores experimentais norte-americanos tais como, Michael Snow, Hollis Frampton, Ernie Gehr, Paul Sharits, Joyce Wieland, George Landow e Tony Conrad, criaram filmes que renunciavam à narrativa ficcional linear, explorando os elementos estruturantes do meio cinematográfico como a luz do projetor, efeito de tremidos e flicagens, o cintilamento, o grão, o movimento da câmera (zoom, panorâmica e loop) e a imagem fixa. Esses autores afastavam-se da tendência lírica, rejeitando a interioridade de matriz romântica e expressionista que marcara o experimental americano nas duas décadas anteriores e que tinha em Stan Brakhage seu principal representante. Os cineastas estruturais encaminhavam-se para formas neutras, dessubjetivadas, e recorriam a formas simplificadas, repetições, sistemas matemáticos, e operações elementares do meio filmíco. Com retóricas semelhantes ao do movimento concretista e minimalista este movimento ficou conhecido como Cinema Estrutural, conceito cunhado por Paul Adams Sitney.
3. Roberto Bolaño nasceu em 1953, em Santiago do Chile. Instalado na Espanha a partir de 1977, exerceu diversas atividades manuais para sobreviver. Depois do sucesso de crítica de La literatura nazi en América (1996), publicou várias obras em poucos anos. É ganhador do Prémio Rómulo Gallegos por seu romance Os Detetives Selvagens, que ele descreveu como uma carta de despedida à sua geração. Bolaño foi considerado por seus pares o mais importante autor latino-americano de sua geração. Se destacam os livros: Estrela Distante, (1996), Putas Assassinas (2001) e 2666 (2004).
4. Filme dirigido por Maurício Rezende, com roteiro de Uchoa, exibido na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
5. Atual Governador do Estado de São Paulo e Prefeito da capital paulista entre janeiro de 2017 e abril de 2018, filiado ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).