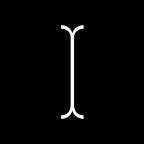Foto: Ricardo Basbaum
Sobre o et cetera - Entrevista com Ricardo Basbaum
Por Duda Kuhnert
Artista multimídia, curador, professor, escritor, crítico. A amplitude dos modos de ação de Ricardo Basbaum afirma a condição de trabalho do artista contemporâneo. Os compromissos ético-estéticos do criador não se reduzem à experiência poética, mas a todo o circuito da arte. Assim sendo, o artista-etc — aquele que cruza as diversas operações — reconfigura o cenário do “artista como funcionário de galerista” e politiza as relações com o mercado de arte.
“Não existe sensação artística sem estruturação, constituição, organização da sensação. Parece-me que Basbaum sempre atuou com essa consciência”. A preocupação com a estruturação que fala Stéphane Huchet implica no rigor da produção visual de Basbaum, mas também das suas investigações teóricas. Desde o início de sua carreira na década de 1980, Basbaum articulou as dimensões do sensível, da sociabilidade e da linguagem, combinando produção plástica e discursiva.
Em seu espaço de trabalho, como ele mesmo o denomina, conversamos sobre as complexidades da atuação do artista, suas obras que provocam os saberes do corpo e induzem novas formas de contágio, os jogos de alteridade que tensionam as linhas entre o eu e o outro, a função da academia na convergência entre teoria e prática e muito mais. Confira abaixo:
BEIRA: Como você compreende as práticas artísticas dentro do contexto das múltiplas atividades humanas? A arte é exterioridade do trabalho ou nele está inserido?
Ricardo Basbaum: Começamos bem [risos]! Bom, começando pelo final da sua pergunta: acho que a arte não é exterioridade do trabalho. Arte é um trabalho. A expressão trabalho de arte, no correr do século XX, serviu para substituir, de certo modo, a noção de obra de arte, que está mais ligada à tradição das Belas Artes. O termo trabalho é para trazer a materialidade do esforço envolvido no processo. A obra de arte é trabalho, é uma modalidade de trabalho. Envolve esforço físico e mental, esse esforço psicofísico envolve uma materialidade claramente delineada e, portanto, é um gesto de produção. O que a gente poderia também destacar como singular da obra de arte, no sentido de que há um grande investimento nisso, é que o trabalho de arte é um gesto que é feito para produzir trabalhos outros, vamos dizer assim. A recepção, aquele que se engaja com a obra, o chamado espectador — que já é uma palavra que não dá mais conta — é alguém que é convidado a também fazer um esforço produtivo. Então, acho que é isso que aponta claramente para o que a gente chama de arte contemporânea. A partir da metade do século XX e da Segunda Guerra Mundial, isso vai só se tornando mais preciso com o correr do tempo e também se desdobrando em outras camadas da economia do mundo hoje. O espectador no campo da arte é convidado a cada vez mais se envolver com a proposição, com o trabalho, com a proposta.
E o trabalho só ocorre com essa cadeia de produções que vai levando o trabalho pra cá e pra lá. É claro que esse é um trabalho dito intelectual, não é só um trabalho físico de pregar um prego. A ideia do artista moderno já o entende como um artista intelectual, que faz o gesto do trabalho compreendendo suas dimensões materiais e imateriais. E sobre a primeira parte da sua pergunta: bom, a gente compreende as práticas artísticas como gestos intelectualmente e materialmente relevantes, algo singular, especial, não é? Mas eu diria que a perspectiva do início do século XXI ou do final do século XX é que esse gesto também tem sido bastante instrumentalizado pela indústria cultural. Pode-se dizer com muita satisfação que, como tanta gente diz, [Jean-Luc] Godard inclusive, a obra de arte é aquilo da ordem da exceção, do singular. Mas ao mesmo tempo a indústria cultural traz a obra de arte como um objeto inserido no dia-a-dia do consumo, do entretenimento. A gente está circundado por isso. Então, construir essa singularidade, essa diferença, me parece que tem sido cada vez mais complicado, pela quantidade de interesses produtivos que se agregam junto desse gesto de construção da obra. O artista moderno, como esse intelectual livre, que produz um gesto singular de intervenção, de exceção, também é um empregado da indústria cultural, do entretenimento, no final do século XX e começo do século XXI. Eu digo isso com o cuidado de não cair num clichê dicotômico e de entender as zonas de transição que existem entre esses dois polos. Acho que todo mundo se move nesse território e que essas duas demandas se misturam.
B: Em que medida é possível dizer que o fim das fronteiras entre arte e vida — e se é possível dizer isso — se relaciona com a compreensão da arte enquanto atividade inserida na experiência humana?
RB: Então, eu vou discordar quando você fala fim das fronteiras. Quer dizer, não acho que não existam fronteiras, mas acho interessante que existam linhas entre os campos. Não como fronteiras, no sentido da barreira, do muro alto que impede que a gente atravesse, mas uma linha de contato que permita que a gente tanto afaste como aproxime esses polos. Porque é importante que eles guardem uma autonomia e que não desapareçam um no outro simplesmente. A possibilidade de encontro entre arte e vida é de fato uma demanda das mais radicais das vanguardas do século XX. Então, quando a gente parte para pensar que agora no século XXI essa demanda, que era tão radical e inassimilável pelo mercado e pela vida cotidiana, estaria sem qualquer separação… Eu acho que há uma perda, no sentido de pensar que a arte se diluiu na vida e vice-versa, deixando de existir um tensionamento entre esses polos. A possibilidade de encontro entre arte e vida foi uma demanda radical das vanguardas e no Pós-Guerra a gente encontra inúmeros artistas produzindo obras fundamentais com essa demanda. Ao mesmo tempo, encontra um interesse geral dos processos econômicos e institucionais em consolidar essa passagem, como se esse tensionamento estivesse se acabado. Então acho que a gente tem que pensar nas provocações recíprocas entre a arte e a vida. Ou seja, radicalmente sair da arte e pensar a vida como obra de arte ou ter a obra de arte como aquele elemento absolutamente estranho à vida que vai provocar a vida como um certo atrator estranho [conceito da física matemática que compreende a sensibilidade dos sistemas complexos dinâmicos às suas condições iniciais, apontando para instabilidade e imprevisibilidade]. Acho mais interessantes essas provocações recíprocas entre o campo da arte e o campo da vida, sem que um se resolva facilmente no outro, senão a gente perde o tensionamento. A obra de arte é um tipo de produção que também serve para transformar e provocar a vida, nos seus hábitos, naturalizações, costumes, regramentos e na sua regularidade. Então é preciso sempre preservar uma certa dose de estranhamento. É o que a gente perde um pouco quando a indústria cultural vai tomando conta de tudo, né? Porque ela vai regulando, protocolando e profissionalizando tudo, colocando em uma economia racional todas as práticas da arte. O mercado chega em todos os espaços, mesmos nos espaços onde não chegava antigamente. Os artistas tinham que pensar em estratégias de resistência ao mercado, mas o mercado vai lá e devora tudo, quer tudo, quer todos os documentos, quer todas as pequenas anotações… O arquivo vira obra para o mercado, vai para o leilão e tudo. Vivemos nesse momento complicado que parece que as demandas da vida chegam muito próximas da obra de arte, nessa regularidade da vida cotidiana toda sincronizada, regulada, controlada também pelos algoritmos dos centros de controle.
B: Sobre a definição de “artista-etc”, termo cunhado por você para designar os artistas agenciadores do circuito da arte, o “etc” abrange a pluralidade de formas de atuação. Gostaria que você comentasse como estes muitos modos de se constituir como artista delineiam um novo arranjo do meio artístico e vice-versa.
RB: O “artista-etc” pensa o artista além do mero produtor de obra de arte. Quer dizer, é importante não perder o horizonte desse objeto singular, a obra ou trabalho; mas ao mesmo tempo, tomando cuidado, dentro da normatização da arte pela indústria cultural, com a separação destas especificidades profissionais. Cada profissão é claramente delineada nas suas atribuições. Então, o artista faz a obra, o crítico critica, o historiador faz a história, o teórico faz a teoria, o curador faz a curadoria e assim por diante. Cada um com o seu nicho de mercado claramente separado. Essa fórmula do “artista-etc” foi pensada no sentido de evitar a facilidade com que se dá a normatização profissional desses campos. Esse “etc” interessa a todas as áreas potencialmente, quando se veem restritas nessas normatizações profissionais, atributos limitados de ação dentro do mercado. Então, o “artista-etc” aparece como um modo de recuperar na prática do artista essas práticas todas. Antes dessa normatização do campo da arte profissional, quer dizer, se a gente olhar para arte da primeira metade do século XX, os artistas faziam exposições, os poetas faziam textos críticos, o artista fazia teoria da arte, sem se preocupar que isso fosse uma parte diferente do fazer da obra. Então, o “artista-etc” quer recuperar para a prática do artista esse papel que não é o papel do artista como funcionário do circuito, que apenas produz a obra para entrar no mercado. Mas um artista que quer ser esse intelectual livre deve reconhecer que o artista contemporâneo, de qualquer maneira, tem que compreender minimamente cada um desses campos. Não dá pra fazer uma obra de arte contemporânea sem ter um mínimo de discernimento crítico e teórico, sem ter um mínimo de discernimento histórico, sem compreender que se você não for capaz de dialogar com o curador em uma exposição, nos termos de um projeto curatorial, você vai ser instrumentalizado claramente na exposição pelos interesses outros que não são os interesses da prática do trabalho. Esse “artista-etc” vem querer reforçar o artista enquanto produtor, no sentido de reconhecer esse artista com ferramentas conceituais, capaz de sentar em uma mesa de negociação com todos os outros interlocutores, capaz de intervir em cada um desses campos e também de exercer papéis em todos esses campos, pensando que a obra de arte é sim algo de produção material, mas também de produção crítica, histórica e teórica. Historicamente o artista moderno e contemporâneo é constituído assim, não é? Então, o “artista-etc” vem de encontro a essa demanda.
B: “Quando o artista questiona a natureza e a função de seu papel como artista, escreveremos ‘artista-etc’”¹. Você vê relação entre o “artista-etc” e o “artista-produtor” de Walter Benjamin, que deveria intervir nos meios de produção artística a fim de mudar a técnica dos meios tradicionais?
RB: Sim, claro. Benjamin está em outro momento histórico, então ele não teve a vivência do que a gente chama hoje de arte contemporânea, mas das transformações da arte moderna. E ele já percebia ali que o papel do artista estava mudando radicalmente e que o artista não podia mais se relacionar passivamente com os seus meios e instrumentos técnicos. O artista teria que trazer os meios técnicos para junto da sua poética e, portanto, renová-los e reinventá-los radicalmente. E é o que a gente assiste durante todo século XX, claramente. Você não tem mais como definir arte contemporânea em termos de técnicas, materiais e meios específicos. O artista contemporâneo pode mexer com qualquer material e de qualquer maneira, se associando a outros agentes de produção, com suas capacidades técnicas especializadas e recorrer a recursos industriais, fábricas, aparelhos e aparatos técnicos particulares. Então, está claro que o Benjamin já percebeu essa mutação na figura do artista e acho que ele estava interessado nesse artista, sem dúvida alguma, como um intelectual. Ele mesmo como um filósofo não era um filósofo no sentido habitual — era um filósofo com muito apreço à ferramenta da linguagem como invenção.
B: Desde Olho, em meados dos anos 1980, até Você gostaria de participar de uma experiência artística?, criado a partir do projeto NBP (Novas Bases para a Personalidade), muitos de seus trabalhos abrem espaço para outras presenças, participadores que multiplicam o sentido da obra. Esse método de produção coletivo modifica as relações entre os agentes, principalmente no que diz respeito à posição do artista. Você vê relação entre tal configuração e as discussões acerca da morte do autor?
RB: Bom, eu vejo relação direta com aquilo que a gente já conversou antes, que é esse deslocamento do espectador de uma posição dita passiva para uma posição totalmente responsável para que o trabalho de fato aconteça. O espectador desdobra os efeitos. E nessa figura do espectador eu estou colocando todo mundo, não simplesmente o chamado espectador, mas também o crítico de arte, o historiador, o teórico, qualquer investigador que se aproxima da obra e se coloca com desejo de ativá-la, ou seja, se deixa tocar pela obra para ativar a obra. Então, o trabalho só acontece com essas ativações. Por isso, desde o início, o meu trabalho procura se aproximar dessa possibilidade do chamado “espectador participante”, mas que é o lugar desse ativador do trabalho, que é trazido para perto dos momentos de produção. Sobre o final da sua pergunta: não é uma coincidência que essas questões da participação e ativação da obra tenham de fato aparecido junto com as discussões da morte do autor e do sujeito. Estava se querendo desconstruir o papel do sujeito-autor como principal produtor das interpretações da obra, que controla também a recepção da obra. Então, me parece que a morte do autor e do sujeito, em um primeiro momento, queriam conversar com essa diluição do autor nas formas, vamos dizer assim, de espectação. Mas eu diria que isso é uma marca da chamada filosofia estruturalista e a tal da filosofia pós-estruturalista já traz o sujeito de novo. [Gilles] Deleuze e [Félix] Guattari, por exemplo, já têm essa marca de ativar de novo o sujeito, mas sem que volte a ser aquele anterior à crítica do sujeito. É um sujeito que já entende a sua diluição no coletivo, que se produz em relação ao grupo. A ideia da produção de subjetividade vai falar de uma micropolítica, dos processos de ativação sensorial e sensível, da proximidade entre corpo e coisas, da relação com as exterioridades, mas sem perder de vista a singularidade do corpo e dos agentes que produzem diferença. A minha geração é aquela que tem 20 anos a partir dos anos 1980, e fui muito marcado pelo trabalho do Deleuze e Guattari, sempre pareceu uma filosofia muito estimulante. Não só a mim, evidentemente, muitos foram ativados por esses pensadores, não é? Então, no meu trabalho é bem marcado o lugar de uma micropolítica, mais do que uma macropolítica: a proximidade do corpo, a mobilização do sujeito em relação aos grupos, a ativação do eu e do você e ter a obra como uma ferramenta de produção de subjetividade. Penso que o meu trabalho conversa com essas tradições a que você se refere, mas já com esse salto seguinte.
B: No texto O artista como curador, você afirma “Falar do outro sempre através de si mesmo e falar de si através do outro”. No diagrama (Nós): “Olhares para o entorno, despindo-se de alguns automatismos, aceitando a fluência de outros”. Gostaria que você comentasse os jogos de alteridade presentes em sua produção.
RB: Acho que já falamos alguma coisa sobre isso antes, mas o que eu poderia acrescentar seria de fato os trabalhos que envolvem essa relação com o outro. E como você já percebeu, tenho uma série de trabalhos que se fazem nessa proximidade com a recepção. Tem a série Você gostaria de participar de uma experiência artística?, que envolve um objeto que é emprestado a partir do acordo de que quem recebe esse objeto fica responsável por ele e viabiliza uma atividade, uma experiência com esse objeto. Tem as ações que eu chamo de eu-você: coreografias, jogos e exercícios que, como o nome diz, são coreografias, jogos e exercícios com dois grupos, cada um usando camisas de cores diferentes, amarelas com pronome “você” e vermelhas com pronome “eu”. É um trabalho que penso como de dinâmica de grupo. Tem as Conversas coletivas também, que são importantes. São um processo de trabalho em grupo em que eu proponho que a gente converse sobre determinado assunto e que essas conversas se desdobrem a partir de fala, escrita e leitura. Então, o que é conversado vira texto, que é lido para o grupo e essa leitura traz de novo a fala e deflagra outras conversas. E nesse processo construímos um roteiro conjunto pensado a partir de uma ideia de orquestração de vozes, ou seja, o roteiro é feito para uma apresentação pública pensada ao modo de um concerto musical. E tem os diagramas como uma quarta série, uma superfície de contato com esse espectador que é leitor e espectador ao mesmo tempo, deflagrando um processo de ler e ver que se dá em mistura. Bom, teria também as estruturas de ferro que são feitas para uso. Então, eu posso falar rapidamente de cada uma dessas séries, começando pela última: essas estruturas de ferro são ao mesmo tempo arquitetura e escultura, são pensadas em uma escala de uso, ou seja, elas têm portas, obstáculos, bancos, corredores, estruturas para deitar e sentar — são esculturas mas também elementos de parada, descanso na exposição, são lugares os quais é possível utilizar de fato. E é claro que ali eu já convido esse visitante a entrar no trabalho, se mexer e até fazer exercícios, quando existem obstáculos a serem saltados, por exemplo. Há aí uma mobilização, gosto de pensar na ideia de uma performance compulsória, porque o visitante tem o corpo mobilizado ali. E você tem que tomar uma decisão: você vai entrar ou não? Vai sentar ou não? Vai atravessar ou não? Então, ver só de longe, sem chegar perto, é recusar uma oportunidade. Mas na medida em que você vai chegando perto, você vai sendo convidado a atravessar, sentar, saltar… E assim você vai sendo espetado pelo trabalho, no toque da textura metálica em sua pele. Já os diagramas convidam para esse gesto de ler e ver ao mesmo tempo e são dispositivos para ativar de fato esse processo verbal-visual. As Conversas coletivas são um momento de mobilização de vozes, de construção de uma espécie de polifonia. São quartetos, quintetos, depende do grupo, às vezes tem dezoito pessoas, às vezes tem cinco, oito, nove, dez… A gente tem o momento de construção coletiva do roteiro, depois a leitura pública, que traz a vocalização conjunta no ritmo de leitura do texto, mobilizando refrões, coros, falas individuais ou coletivas, improvisos, traduções. A leitura pública é gravada e gera um arquivo de áudio, uma peça sonora. Os jogos eu-você são movimentos de dinâmica de grupo e o grupo vira um grande organismo em que os “eus” e os “vocês” não estão organizados simetricamente. E quando esse grupo está formado, quase qualquer coisa que a gente faz é incorporado ao trabalho. Podemos fazer linhas, desenhos no espaço, usar a arquitetura para saltar, atravessar, usar uma bola e outros recursos. E Você gostaria de participar de uma experiência artística? é esse momento em que, ao convidar para usar o objeto, estou querendo que esse participante me dê uma resposta em relação ao que é possível fazer não somente com o objeto, mas também com os conceitos que vêm junto com o objeto. Quero que aquilo seja utilizado, ativado e redelineado de alguma maneira — o conjunto de diversas respostas que já aconteceram formam o que chamo de “romance crítico”, termo que utilizei no meu doutorado. Todas as participações, usos e respostas que foram feitas compõem esse grande conjunto de falas, também polifônico, um conjunto de investidas críticas em relação ao meu trabalho.
B: Você assume na sua produção uma aliança entre o campo artístico e discursivo, sendo este último um território para o exercício da prática artística, mas deslocada para outra forma. Como você lida com essa convergência de linguagens, que sobrepõe os espaços de arte e sobre arte?
RB: Para mim, sempre pareceu fundamental articular esses campos. Todos os artistas que eu admirava, dos quais que eu procurava me aproximar, eram artistas que tinham abraçado essa ação dupla: um cuidado na produção da obra e um cuidado com a produção discursiva que essa obra mobiliza, requer e ativa. Então, na medida em que sempre me interessou o uso da palavra, fui querendo aproximar esses campos em uma relação produtiva e estruturar o meu trabalho assim, para que eu não precisasse sair de um campo ou de outro. Ou seja, para me aproximar da palavra e não precisar abandonar o campo da arte, na medida em que o meu discurso crítico e teórico sempre foi também forte. Então, não tinha interesse em fazer crítica ou teoria sem fazer obra porque a poética da obra é também a poética da teoria e da crítica. Até hoje eu tomo um cuidado na produção do trabalho para que esses campos se movam mais ou menos juntos, sempre procurando construir a obra em proximidade com alguma formação discursiva. Quando eu fazia a Dupla
Especializada com o Alexandre Dacosta — a gente compunha canções (chamávamos a série de “reflexões musicais”) que tinham comentários críticos, irônicos e bem-humorados em relação ao circuito de arte, fazíamos também filipetas, folhetos para distribuição e atuamos juntos no grupo A Moreninha — sempre houve essa preocupação em não perder o fio da meada do discurso. Sobretudo, para não ficar de modo desprotegido nas mãos dos interesses dos outros agentes do circuito, como a crítica, teoria e até do mercado, com a sua discursividade perversa — para não se deixar devorar ou se apropriar facilmente por esses outros campos. De fato, tive esse cuidado de condução, então em todos os momentos do meu trabalho tento encontrar essa conversa entre discursividade e visibilidade. E os diagramas são um momento importante nessa descoberta. Eles surgem como um grande poema visual e, ao mesmo tempo, essa construção que é também verbal demanda o uso da palavra junto com o uso das linhas. As linhas vão re-valorando a maneira como você lê e como o texto é espacializado na parede. Os diagramas são um marco importante para mim, uma ferramenta importante conquistada nesse processo. E muitas instalações são acompanhadas de seus textos próprios que vão na parede, em tamanhos diversos, que servem para essas ativações do espectador.
B: No texto Cica e sede de crítica, você defende a prática da crítica de arte como um lugar de proximidade com o trabalho de arte, diferente do distanciamento crítico e da objetividade da linguagem, muito pretendido no discurso jornalístico. A crítica como transcriação, muito explorada na atuação de Frederico Morais, por exemplo, apresenta a prática como um desdobramento poético da obra e permite um engajamento total com o texto. Gostaria que você comentasse a chamada crise da crítica de arte e a relação com o discurso especializado e interdisciplinar.
RB: Bom, a crise da crítica é o ambiente em que nos movemos há, pelo menos, 50 anos. A arte contemporânea é marcada por ela, porque a gente percebe que não dá conta dos problemas da obra de arte de uma maneira tão simples como se pensava. Então, a crítica também tem se reinventado radicalmente. Como você citou, o Frederico Morais é um crítico que encarou a reinvenção do seu papel como crítico, o seu interesse pelos audiovisuais o aproximou das práticas artísticas. Então, nessa chamada crise da crítica o que eu vejo de mais interessante é esse chamado à reinvenção dos papéis do crítico e também do artista. O “artista-etc” não deixa de ser uma reação a essa crise. No texto que você cita na pergunta, faço também um elogio à crítica. O que eu entendo como o mais interessante da crítica é a possibilidade de uma fala, de um discurso em proximidade máxima com a obra. Isso é o que acho mais fascinante e não vai acabar nunca. Quer dizer, quando o espectador é convidado a se responsabilizar mais, ele também se torna um crítico. Ninguém mais vai querer que o espectador simplesmente fale “ah, gostei” ou “não gostei, isso é uma droga” — o espectador também vai ser cobrado cada vez mais em uma fala mais precisa, clara, inventiva e transformadora. Então, a crise da crítica é também a crise da organização desses papéis. Não é a crise da possibilidade de produzir um discurso forte e potente em proximidade da obra. Há uma demanda urgente desse discurso afiado e potente. Eu diria até que os trabalhos querem — sobretudo a obra de arte em geral, nas suas ambições e no seu lugar de generosidade — produzir esses discursos afiados e agudos. Portanto, a crise da crítica é uma crise da produção desses discursos no sentido de que indica uma inversão de papéis. Não deixa de ser também uma crise a partir da questão curatorial: não se consegue mais perceber os limites onde termina uma obra e começa a ação curatorial, museográfica e expográfica. Hoje em dia esses espaços estão misturados, não é? A gente identifica a exposição pela assinatura do curador muitas vezes e não pela assinatura dos artistas que estão ali. As obras parecem que são acessórios ao gesto de construção do evento. É claro que interessa que artista e curador tenham uma colaboração potente em termos do funcionamento de provocação das obras. Por exemplo, a gente vai em uma bienal e não sabe aonde termina a arquitetura do [Oscar] Niemeyer, onde começa a expografia do arquiteto convidado para desenhar a exposição, onde começa a museografia do curador da mostra e o que o artista quis fazer ali dentro. Então, onde começa e termina o trabalho? O trabalho está em um processo constante de negociar as suas fronteiras. A crise da crítica é também a crise de não saber mais sobre o que falar claramente. E quando você falou sobre a objetividade do texto: na verdade, essa objetividade do texto está desmontada desde o século XIX. É impossível ter qualquer objetividade racionalista na relação de fala com a obra de arte, no sentido de que você tem necessariamente que envolver o seu desejo de fala e de se localizar ali. Você não tem como ficar em um território neutro e objetivo. Então, a fala em relação à obra de arte é desde sempre uma fala parcial. Quer dizer, quem diz isso é o Baudelaire lá nos seus preceitos de crítica de arte no século XIX. Ele diz que o crítico de arte é parcial e engajado politicamente e não teria como ser de outra maneira. Ao mesmo tempo em que esse crítico vai ser uma espécie de traidor, no sentido de necessariamente botar a perder o trabalho na medida em que constrói falas e discursos. Ele bota a perder, mas também ganha nas incursões e demarcações de território. Quer dizer, botar a perder no sentido da ideia do tradutor como traidor: qualquer fala a partir de uma experiência não pode representar aquela experiência, ela está reconstruindo aquilo de alguma maneira e construindo outro objeto. Sobre a interdisciplinaridade: a condição do saber hoje é uma condição permeável. Podemos ficar com vários termos: interdisciplinar, transdisciplinar, extradisciplinar… São diferentes tentativas de mostrar que não se está mais no campo das disciplinas isoladas umas das outras. Sem dúvida alguma, o discurso mais interessante é aquele que se deixa fluir entre os diversos campos. Não existe um vocabulário específico do campo da arte. Tem um texto que eu gosto muito do Omar Calabrese, no qual ele diz que o vocabulário da arte não é um vocabulário fechado. Você pode ler um texto do Ronaldo Brito que fala do buraco negro, um texto da Rosalind Krauss que fala do estruturalismo, da psicanálise do [Jacques] Lacan, você pode ler um texto de crítica que mobiliza questões da antropologia e por aí vai…
B: Em referência à frase do artista alemão Joseph Beuys, “Todo mundo é um artista”, você afirma “Todo mundo é um crítico”. Em que medida a participação do espectador na obra de arte possibilita um aprimoramento do discurso crítico?
RB: Pois é, a ideia de dizer que todo mundo é um crítico é para complementar a fórmula do Beuys e pensar que esse espectador está sendo convidado cada vez mais a se envolver com o trabalho e ele/ela assim desenvolve um discurso que tem um apuro, um cuidado de um discurso de proximidade com a obra, que é um discurso crítico. Não falo em um sentido chato, arrogante e pedante da palavra, não é convidar o espectador a um discurso pedante, mas convidar o espectador a uma fala inventiva, que flua e que o responsabilize no sentido de que essa fala tem uma força de intervenção. Então, todo mundo é um artista e todo mundo é um crítico. Me parece que dentro do quadro que foi sendo traçado aqui a gente percebe como são figuras complementares. É esse convite a uma proximidade e, sobretudo, a querer quebrar uma barreira inibitória que os protocolos de espectação muitas vezes trazem. A obra de arte não pode intimidar, no sentido de recalcar a fala, ela tem que produzir falas, não é? Pode-se começar gaguejando, com interjeições e por aí vai. Agora, me parece que a questão da instrumentalização é chave hoje, no sentido de que a gente tem que reconhecer que dentro desse quadro da indústria cultural, profissionalismo e economia neoliberal, foi-se vendo como os interesses que se agregam em torno da obra de arte são muitos, diversos e conflitantes. Não são apenas os interesses do artista, do crítico, do historiador, do teórico, do público ou do mercado, com seus interesses econômicos. Com o regime neoliberal o interesse em relação à obra de arte se torna algo próximo da macroeconomia: as corporações se interessam em se aproximar das obras de arte, assim como os grandes patrocinadores, os bancos, as companhias de comunicação. É só ver o quadro de patrocinadores dos centros culturais corporativos que existem pelo planeta. Quer dizer, a obra de arte quase que virou um modelo de prática para a economia neoliberal. O artista conceitual é considerado uma espécie de modelo do novo empresário/empreendedor que se forma no regime neoliberal. Então, a obra de arte se converte nesse objeto de referência, perigosamente normatizado e também puxado para cá e para lá por esses diversos interesses que se agregam ali. É preciso reconhecer na exposição patrocinada, por exemplo, que aquela obra também está atuando nas ativações dos interesses daquela corporação. Mas também pode estar atuando em contrário, a obra de arte não está docilmente colocada ali. Mas se coloca ali um campo de negociação, pode-se dizer, pesado e forte, uma vez que muitos interesses contraditórios têm que encontrar ali algum lugar de efetivação. Mas é preciso reconhecer que o risco é esse. Existe a possibilidade de instrumentalizar o visitante da exposição também, porque esse visitante, que eventualmente não tem a prática de entender os bastidores da construção da obra, não vai enxergar na exposição qual é o trabalho da museografia, da expografia, qual é o trabalho curatorial, do patrocinador. Mas vai atribuir tudo aquilo a um ambiente natural, neutro, que estaria ali apenas a serviço da obra.
B: Isso se relaciona com uma outra pergunta: é possível dizer que essa sobreposição de funções do artista, crítico, curador, etc, se relaciona com a rara manifestação de críticas negativas atualmente? É possível pertencer e criticar? Nesse contexto, a obra de arte consegue agir de forma não-dócil?
RB: É uma questão que tem a sua dificuldade, é claro. Por exemplo, um autor que seria radicalmente contra a crítica negativa é o Deleuze, ao considerar que se está empobrecendo a linguagem quando se faz uma crítica pejorativa em relação à obra, porque se está abdicando de exercer o seu papel de produção e de demarcação de um território. Seria mais importante o texto crítico que se engaja com as obras com as quais pode compor de modo produtivo, do que aquele que empobrece a linguagem no sentido de uma fala que vai apenas, vamos dizer assim, traçar acusações, julgar, avaliar. Então, existe a tendência da crítica mais interessante, uma crítica produtiva e de intervenção, que vai querer somar ao trabalho um gesto produtivo em relação àquela poética. Bom, essa é uma questão. Agora, você está tocando em outro tema também que é a questão dos interesses diversos que se associam ali e, sabendo que todos os territórios são saturados de interesses, como é possível ainda ocupar com alguma autonomia, com alguma independência qualquer desses territórios? Sobretudo quando a gente sabe que muitos desses interesses são interesses muito poderosos e majoritários, como diria também a filosofia do Deleuze. Como o artista ou o pensamento com os seus devires minoritários poderiam ainda reivindicar algum tipo de espaço? Mas a obra de arte tem essa capacidade de forjar ferramentas de fina negociação e de construir territórios de reversão e dobras. Você poderia, com o manuseio dessas ferramentas de linguagem, intervenção poética e recursos técnicos, re-espacializar, produzir o negativo daqueles espaços, produzir formas de resistência e espacialidades de reversão, de modo que possa sim instalar um discurso com potência crítica no bojo de um espaço completamente saturado. A arte sempre mostrou essa capacidade. Por isso não se deve subestimar a obra de arte em relação a esses interesses majoritários, mas é claro que para fazer isso é preciso um grande investimento, um apuro no manuseio dessas ferramentas conceituais todas. Não é uma ação simples, é uma ação que tem o seu grau de complexidade. E de sutileza também.
B: Por fim, gostaria que você comentasse sobre o papel da academia nessa conexão entre a crítica e a arte. Qual é a função da academia nessa conexão?
RB: De modo algum a academia é o lugar que separa teoria e prática. Aliás, o campo da arte é um dos campos em que essa separação se torna impossível. E produzir crítica e teoria é também se lançar na prática da crítica e da teoria. Então, não tem como separar. A gente separa, muitas vezes, em um uso mais coloquial da linguagem, para se fazer entender de maneira rápida. Mas a rigor, não dá para separar. Agora, a academia é um lugar diferente do mercado de arte, é um dos agentes que compõe o circuito da arte. Então, para mim tem sido muito importante a possibilidade de atuar também na academia como um local em que eu posso trabalhar as questões da poética que me interessam, que estão na obra, mas que estão também na maneira como manuseio as questões da crítica, da teoria e da história da arte. Quer dizer, é um cuidado que tento ter, não perder o eixo da intervenção poética que me interessa, seja na academia ou fora dela. Claro que a academia tem os seus limites. Como costumo dizer, as expressões “universidade”, “universo” e “mundo da arte” fazem parecer que cada território (academia e circuito de arte) quer reduzir a totalidade do campo aos seus próprios termos. É claro que não se pode acreditar na universalidade da academia e nem achar que o mundo todo está no mundo da arte. O que me interessa e o que tem sido produtivo para mim hoje é não abrir mão de estar dentro e fora da academia. E nesse deslocamento de entrar e sair é que eu encontro o desafio do trabalho. Estando na academia, tem sempre alguma coisa ali fora que me puxa e que me faz não perder de vista uma série de relações e de construção de valores. Do mesmo modo, estando no circuito da arte, eu posso ter um pé na academia que me garante um tempo de encontro com certa discursividade em torno do trabalho, um tempo de conversa e elaboração que os protocolos da academia trazem — encontros e conversas dos mais diversos tipos, na aula, na orientação, seminário e simpósio e tudo mais. Então, são espaços que eu procuro manusear reconhecendo as diferenças entre eles e procurando entrar e sair. Quer dizer, não me interessa ficar em apenas um ou apenas em outro, tenho tentado manter uma relação produtiva entre esses territórios.