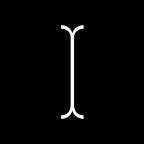Cinema documental ou a rua imaginária: notas sobre o início do mundo
Por Diego Franco
Se existe (eu acredito nisso) um uso político do cinema e, especialmente, do cinema documentário, se é verdade (eu acredito nisso) que com o cinema, arte do corpo, do grupo e do movimento, torna-se finalmente possível tratar a cena política segundo uma estética realista, trazendo-a de volta da esfera do espetáculo para a terra dos homens, como as opções de escritura não diriam algo sobre a atual conjuntura?
Jean-Louis Comolli
Enquanto enfrentamos um sutil e crescente processo de deterioração da potência da linguagem, nutrimos — por vezes em segredo — a certeza de que falar já não significa nada. Lançados nas redes do que se convencionou chamar de pós-verdade, hipnotizados pela superficialidade das coisas, esquecemos que, na sociedade do espetáculo, nem tudo que reluz é ouro e o que se quer acreditar quase nunca é o que conseguimos projetar com nossas ações. Em um contexto onde os fatos são minimizados e o apelo emocional ganha protagonismo, habitamos os vazios de um mundo fragmentado, embora sem a magia de um passado que buscou, um dia, reunir seus cacos, como nos ensinam alguns mitos antigos. A história de Osíris, por exemplo, conta sobre uma subjetividade fragmentada que é reunificada, enquanto o mito das Sefirot reconhece todo um mundo dividido, enquadrando seu significado a um desejo pela união transcendental de seus fragmentos. Onde a antiguidade reconhecia a fragmentação, também enfatizava contextos para restituir o todo, seja na magia de Ísis ou na transcendental união das partículas divinas, na Cabala. A modernidade, por sua vez, apresenta uma mudança significativa na ênfase sobre o fragmento, na qual ele torna-se sinédoque para uma beleza impossível, incompleta, para sempre perdida. Vivemos, assim, a ruína pela perda, o fragmento pela dissociação pura da subjetividade, onde a raiva aparece, talvez, como a última rua imaginária da resistência, em meio a uma paisagem interior esfacelada.
Se as questões anteriores apontam para o fim de algo que começou seu fim junto ao seu surgimento, como acontece com todos nós, talvez aponte também, de alguma forma misteriosa, para o início de um outro mundo. A primeira frase pronunciada na sessão Panorama Livre 3, retirada do filme Memórias do subsolo ou o homem que cavou até encontrar uma redoma, pode ser pensada como o leitmotiv que a sustenta: “entre dois pontos de um trajeto há sempre algo que se perde e muita coisa que se apaga.” A confissão em voz over, pronunciada pelo realizador Felipe Camilo Kardozo, é acompanhada por um plano no qual assistimos ser apagada uma trajetória que fora inscrita em um mapa. Ele continua: “eu, no entanto, guardo tudo.” Talvez por isso mesmo a insistência, durante o filme, de apagar rostos de fotografias, em um gesto performático que complexifica a tessitura entre as imagens e o texto narrado. Seria um artifício de evocação das águas míticas do esquecimento, para deixar-se invadir de algo tão importante para a sobrevivência como é a própria lembrança? Não sabemos ao certo, mas podemos imaginar. Imaginar, como gesto, como ação, como criação, de nós, espectadores, a partir da proposição dos filmes. É interessante quando as obras convidam o espectador a compartilhar este gesto criativo. Podemos imaginar. Podemos imaginar, por exemplo, que para construir um mundo novo, no ambiente apocalíptico no qual nos encontramos, ao menos para grande parte da população brasileira, seja preciso esquecer um tanto, até mesmo para permitir aflorar memórias conscientemente subtraídas, ocultas.
Para um mundo novo, talvez seja preciso esquecer a Lei da Anistia, por exemplo, e assim lembrar e relembrar os nomes daqueles 377 agentes do Estado que torturaram civis durante a ditadura militar brasileira. Nomes arquivados no relatório da Comissão da Verdade. Porque assim, quem sabe, será possível que o novo mundo que sonhamos em segredo surja incapaz de permitir torturas e torturadores. É preciso esquecer que um dia aceitamos, de braços cruzados em frente à televisão, um parlamentar dedicar a um dos únicos torturadores famosos da história nacional, seu voto de impedimento a uma presidente eleita de forma constitucional. Para desenterrar outros mundos deste lamaçal onde chafurdamos, será preciso também esquecer que as palavras um dia passaram a valer o peso do nada. Esquecer para lembrar.
Realizado durante curso oferecido pela Vila das Artes, em Fortaleza, o filme de Kardozo é um ensaio sobre o estado de coisas dos dias atuais daquele já distante Brasil de 2016. O roteiro abre o passado do diretor, interconectando o íntimo e o privado ao evocar em seu gesto ensaístico, por exemplo, o pai que é político, mas também macumbeiro; e a mãe, que além da figura materna performa como uma das muitas parteiras negras do partido dos trabalhadores. Enquanto o texto corre como pelos meandros de um rio tortuoso, a câmera registra o realizador manipulando imagens pessoais, mas também imagens do mundo, retiradas de jornais e revistas. Ele deseja apagar as imagens, talvez para que possa construir um vazio no qual a possibilidade de alguma outra coisa possa brotar. Esquecer para lembrar. No texto narrado, Kardozo assume que guarda memórias, talvez como um receptáculo de imagens submersas no mar de uma mente obtusa. Por isso ele apaga os rostos? Em busca de abrir com um facão espaços vazios dentro de sua mente? O filme evidencia uma certa angústia revoltosa que é trabalhada na montagem enquanto sensação a ser experimentada pelo espectador.
Como dito anteriormente, entre dois pontos do trajeto há sempre algo que se perde. O outro ponto da sessão é o documentário de Louise Botkay, Um filme para Ehuana. A contingência da prática documental, para o pesquisador Jean-Louis Comolli, não está nos circuitos de financiamento ou mesmo nas possibilidades de difusão, mas “na boa vontade — na disponibilidade — de quem ou daquilo que escolhemos para filmar: indivíduos, instituições, grupos”. Certamente, o pensador francês fala de uma realidade diametralmente oposta à brasileira, com nossas constantes oscilações no campo do patrocínio cultural, provocadas pela interferência de tortas ideologias, no mínimo, espinhosas. No entanto, a boa vontade, que aqui interpretada como processo de desnudamento do sujeito filme, de confiança naquele que filma, é o poderoso enlace que estrutura a realização das imagens do filme de Botkay.
Em Roraima, perto da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, a realizadora filma a comunidade Yanomami de um mundo que os planos transpiram seu olhar apaixonado, mas ao mesmo tempo embaçado por lágrimas que imagino ter ela chorado pela luta indígena, visto sua trajetória artística, sempre sensível à essa causa. Olhos vermelhos como o sangue daqueles que já caíram nessa luta. A região onde habitam os Yanomami é chamada de Watoriki, palavra que significa montanha dos ventos. É a montanha onde moram os xapiri, os espíritos da floresta que descem à terra através dos xamãs. Em certo momento do filme, uma índia idosa para no canto direito do quadro e olha para a objetiva. Diferentemente dos filmes nos quais o olhar do personagem atravessa a membrana da imagem e, de modo mágico, me encontra do outro lado da película, parece que, nesse plano, o corpo da cineasta bloqueia esse atravessamento. Seu olhar não me atinge, ele mira Botkay; estuda com seus olhos antigos a realizadora, tal como o faz Botkay, do outro lado da objetiva. Algumas palavras são ditas na língua Yanomami, o que me parece uma certa inquietação interna e evidencia meu próprio estrangeirismo em um país que não sei se meu. Buscando distância dos pronomes possessivos, um país ao qual não sei se pertenço. “O que é o Brasil?” talvez se configure como a pergunta mais misteriosa para nós que tentamos existir dentro de suas fronteiras geográficas e simbólicas.
Longe da roteirização televisiva ou do realismo da telenovela, o filme observa. Um filme para Ehuana é construído de maneira a ressaltar a beleza do cotidiano, mantendo momentos nos quais a afetividade desenvolvida entre a realizadora e a comunidade se mostra presente, de maneira vibrante. Em momentos diversos, a realizadora se coloca, seja para responder alguma questão levantada sobre sua família, ou para, ela mesma, perguntar curiosidades que atravessam o momento da tomada. Como quando Botkay chama uma jovem para dançar e ela gargalha lindamente, deitada em sua rede vermelha; ou quando Ehuana pergunta sobre a vida de Botkay, a idade de sua filha e seu marido, e Botkay a questiona sobre o que gosta de fazer, tendo como resposta o desvendamento, para a câmera, de um desenho que criava enquanto conversavam, como quem diz que gosta de se entregar ao mundo lúdico dos contornos e formas. No desenho em questão, uma índia segura uma criança, em primeiro plano, protegidas por uma árvore ainda em processo de criação. Mais do que observar, a cineasta interage com seus personagens, construindo seu filme sobre o hibridismo de formas documentais clássicas, o cinema verdade e o cinema direto.
Com a câmera na mão, Botkay acompanha os movimentos das índias, nas sombras provocadas pelas árvores da floresta. A maneira afetuosa com a qual passeia a câmera pelos corpos transforma registro em uma arma que tensiona a resistência por meio da empatia, da aproximação — mesmo distanciada — que o cinema é capaz de proporcionar. O que vemos é um exercício que passa pela afetividade dos laços cotidianos, pela colheita dos cachos de banana e a limpeza da mandioca. O filme termina com uma fala denúncia de Davi Kopenawa, em voz over, enquanto assistimos uma tela preta que nos lança para nossas próximas imagens e preconceitos. Ele diz que resistirá. Sua fala lança uma silenciosa questão àqueles que a escutam: o que nós, enquanto espectadores ativos que habitam um outro mundo, um mundo que estamos tentando construir agora, juntos, o que nós iremos fazer para essa causa?
Fechando a sessão está o filme que recebeu menção honrosa pelo júri de São Paulo, composto por membros do Cine Festivais, site jornalístico voltado para a cobertura de festivais e mostras de cinema brasileiros. Entre parentes, realizado por Tiago de Aragão, lança uma questão profundamente importante, para o passado e também para o presente: como filmar o inimigo? O filme funciona como um díptico que entrelaça pela montagem momentos que se potencializam ao serem unidos no tempo do filme, evidenciando o desigual jogo de forças que caracteriza a disputa fundiária brasileira.
De um lado, assistimos cenas da 14ª edição do Acampamento Terra Livre, no ano após o impeachment da presidente Dilma Rousseff; encontro anual de lideranças indígenas nacionais e internacionais, o evento busca a troca de experiências culturais e o engajamento na luta pela garantia dos direitos constitucionais, como a demarcação de territórios indígenas, assim como o acesso à saúde e educação. Do outro lado, assistimos registros de uma reunião da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar “fatos” relativos à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, nos termos que especificava a Comissão Parlamentar do Inquérito (CPI) da FUNAI e do INCRA. Seu intuito, segundo o então subprocurador-geral da República Luciano Mariz Maia, era desqualificar as condutos daqueles que participam de processos de identificação de comunidades indígenas e quilombolas e de suas terras de ocupação tradicional.
As folhas tremeluzentes do bambuzal que contorna os primeiros planos de Entre parentes suspiram a tragédia de um mundo ocidental já sem mistério, onde um território vigiado, controlado e opressor proíbe, com suas burocracias, a vida fluir. Enquanto os PMs pedem que o cineasta “faça a gentileza” de desligar a câmera e os acompanhar para o registro de uma suposta infração, o que vemos? O realizador vale-se do cinema para compreender o momento político, conectar o que, se não fosse a montagem cinematográfica, ficaria separado, de modo a produzir um conhecimento novo sobre os dois tipos de registros. Algo que só nasce graças à montagem. Com o cinema, estamos sempre sob o risco do real. Como pontuado pelo júri do Cine Festivais, o filme de Tiago de Aragão tem “o cuidado de sopesar a derrota concreta e a vitória simbólica”, sua câmera surge como escudo de proteção e a montagem como arma de luta.
Neste sombrio 2019, ao autorizar o uso da força nacional de segurança na esplanada dos ministérios e na praça dos três poderes, em Brasília, antes, durante e depois do Acampamento Terra Livre, Jair Bolsonaro intensifica a posição de quando ainda era parlamentar. Em 15 de abril de 1998, em uma de suas pérolas mortais, disse que “a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país”. Para além do deslumbre e identificação com o colono, existe algo de podre em sua fala que não se restringe a esse momento. As palavras não produzem movimento, elas não geram ação.
Em 2016, Eliane Brum escreveu para o jornal El País um artigo cujo subtítulo informava o leitor sobre “a barbárie de um país em que as palavras já não dizem”. O ponto de partida para suas reflexões fora uma fotografia realizada por Pablo Jacob, da Agência O Globo, na qual Sheila Cristina Nogueira da Silva foi registrada com o rosto coberto pelo sangue de seu filho, misturado às suas lágrimas. Sangue de criança morta por bala perdida. A tessitura do texto nos mostra que “a tragédia brasileira é que as palavras existem, mas já não dizem.”
Se há um genocídio negro, se há um genocídio indígena, e conhecemos as palavras, e as pronunciamos, e nada acontece, criou-se algo novo no Brasil atual. Algo que não é censura, porque está além da censura. Não é que não se pode dizer as palavras, como no tempo da ditadura, é que as palavras que se diz já não dizem. O silenciamento de hoje, cheio de som e de fúria nas ruas de asfalto e também nas ruas de bytes, é abarrotado de palavras que nada dizem. Este é o golpe. E a carne golpeada é negra, é indígena. (Eliane Brum, 2016)
As palavras parecem vias de mão única, pois incitam o ódio mas não provocam um levante contra as obscenidades que proliferam. Talvez uma das armas para restituir a potência das palavras — mas nem de longe a única — seja o cinema. É ele que imbui o olhar em ato de resistência — por sinal, foi esse o nome dado à mostra paralela do Forumdoc curada por Andrea Tonacci, em 2015. Se o desejo pode começar pelo olhar, a resistência também seguiria esse fluxo? Para isso será preciso esquecer o que é uma imagem, para então lembrar que ela é muito mais do que o espetáculo nos diz.
Ao falar sobre a situação atual no Brasil, Viveiros de Castro argumenta que “todas as forças do caos falam em nome da ordem”. Ele retoma o título do ensaio de Stefan Zweig, “Brasil, um país do futuro”, mas o complementa sagazmente: Brasil, um país do futuro do pretérito. No meio do acontecimento histórico que é o eterno presente, sentimos o peso da confusão, o rugido escuro do agora, uma certa cegueira. Vemos os destroços de vidro quebrado e a madeira lascada. Somos nós a casa que foi devorada pelo redemoinho fascista. Nos sentimos impotentes frente à força centrípeta que nos lança de um lado para o outro. No filme de Tiago Aragão, a falta de consistência da nossa democracia salta aos olhos durante os registros da reunião parlamentar. Assistimos discursos esvaziados de substância e, tão logo são proferidos, se preenchem de ódio ao próximo — ao outro, que também sou eu — e amor ao dinheiro. Os índios não cabem no projeto de nação deste Brasil, mas cabe a soja, a cana e o milho. É preciso esquecer o Brasil para lembrar o Brasil que queremos?
Para Comolli, os filmes documentários “não são apenas ‘abertos para o mundo’: eles são atravessados, furados, transportados pelo mundo”. Ao assistirmos esta sessão, é esse rasgo que vemos no ecrã, um portal para o mundo que envolve a sala escura do cinema, um certo risco do real. Cabe à parte da arte, nos diz ainda Comolli, essa que é a parcela obscura do espetáculo, representar “a estranheza do mundo, sua opacidade, sua radical alteridade”. Século após século, choramos. Quantas outras lágrimas precisam molhar a terra para que nasça uma revolução que seja, primeiro, interior e silenciosa, em um processo alquímico que expanda as nossas veias de sensibilidade para com o outro — que também sou eu e é você — e, no entardecer, transforme as relações que envolvem nosso cotidiano? O passado de extermínios e genocídios segue se repetindo no presente. E, como pontuado por Brum, nada pior do que um passado que não passa.
As denúncias ecoam por estes três filmes, como que carregadas pelo sibilar dos ventos. O último plano de Entre Parentes nos coloca frente ao fim de um mundo fantasioso que insistimos acreditar, mundo no qual podemos sair às ruas e reivindicar vidas melhores junto ao Estado. O fim do mundo está aqui instaurado, nas linhas finais deste texto. É preciso destruir o que ainda resta da ilusão para construir algo novo, onde as palavras voltem a significar algo, uma vez mais.
Suporte bibliográfico
BRUM, Eliane. O golpe e os golpeados: a barbárie de um país onde as palavras já não dizem. <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/20/opinion/1466431465_758346.html>
____________. O Brasil desassombrado pelas palavras-frantasmas: como o sonho e a arte podem nos ajudar a acessar a realidade e a romper a paralisia. <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/10/opinion/1499694080_981744.html>
____________. Bolsonaro manda festejar o crime: ao determinar a comemoração do golpe militar de 1964, o antipresidente busca manter o ódio ativo e barrar qualquer possibilidade de justiça. <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/27/opinion/1553688411_058227.html>
CASTRO, Eduardo Viveiros. Brasil, país do futuro do pretérito.
COMOLLI, Jean-Louis. Ver e poder. A inocência perdida: cinema, televisão, ficção e documentário. <https://estudosaudiovisuais.wordpress.com/tag/comolli-jean-louis-ver-e-poder-2006-pdf/>
MAIA, Luciano Mariz. CPI contra a Funai, Incra, índios e sem-terra. <http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/6CCR_NotaCPI_Funai.pdf>