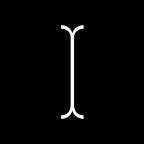Fogo-fátuo
Por Duda Gambogi
As imagens do antigo cinema eram projetadas com fogo. Imagino as chamas tremulantes dos projetores a carvão acendendo o nitrato de prata, fazendo das atrizes espectros cintilantes de beleza extra-impossível. A imagem com um calor próprio e oscilante, a luz irradiando de rostos enormes, iluminando a sala escura.
Tremor Iê me transporta, de certa forma, para o cinemão que nunca estive, traz o encantamento diante de uma aparição abrasada. O breu se instaura como plano de fundo da imagem e da palavra; tudo que dele emerge depende do fogo para se tornar visível, se colocando sob risco de combustão. No escuro da sala e do mundo, tenho como tocha tuchas fantasmagóricas. Veteranas na vida e quase inéditas nas imagens grandes, elas aparecem e desaparecem em uma pirotecnia hipnotizante que precede, por questões físicas de velocidade da luz, o distanciamento sobre o que está na imagem.
Em tempos de noites traiçoeiras, recursos escassos e denúncias urgentes, o próprio estado — de suspensão do real — que se estabeleceu sobre o país se torna a base dos universos ficcionais de diversos filmes independentes. Através da ajuda de alguns props e efeitos de baixo custo — antenas parabólicas, uniformes de esgrima, contêineres — que evocam um imaginário já estabelecido, o projeto político anti-povo que se alastra capilarmente por tudo se legitima como distopia. Os marginalizados pelo sistema, que lutam, na vida, contra a aniquilação de si e dos seus, ganham valor de heróis e heroínas na tela.
É preciso fazer algo e são os filmes, principalmente, que carregam a demanda (cada vez mais saturada diante da crise de representatividade política no país) pelas ações que nos faltam, que nos salvam. Épicos desconstruídos e distópicos surgem, exponencialmente, em diversas vertentes do cinema brasileiro contra-o-poder, de curtas universitários com orçamento zero aos longas de Adirley Queirós. Através de seus artifícios, eles dão vazão às potências dormentes. Os motins, explosões e grandes roubos que desejamos — com o coração carregado de imagens yankees — entretanto, têm se concretizado em um plano bem mais ficcional e simbólico do que o da ação concreta. Espelhando a inércia boquiaberta da realidade e a falta de meios para as revoluções, eles se limitam a apresentar elementos que evocam a resistência e inspiram a ação. Dentre eles, a alegoria de um herói.
Assim como vários outros de seu tempo, a força de Tremor está, de fato, na inversão de um regime de aparição. Na impossibilidade de se vingar em grande escala, derrotando o mal com armas de fogo, montagem acelerada e nenhum tempo a perder, as heroínas em questão voltam para a caverna. Ex-agitadoras nas ruas e recém-fugitivas do cárcere, elas aprisionam, agora, o tempo e o fogo, fazendo uso doméstico dos dois. Produzem calor, luz, café, combustível, em vez de pólvora.
Se a autopreservação diante do caos pode parecer um movimento broxante ou egoísta demais nesses tempos, é preciso lembrar que, por outro lado, ela é condição para o combate. Com a mira apontada sobre seus corpos, essas mulheres voltam à ativa porque conseguiram se aninhar, se fortalecer e organizar seus barulhos, porque construíram um lugar para o qual possam retornar. Através de seus rituais, elas permanecem, para além disso, intrínseca e indestrutivelmente conectadas com aquelas que vieram antes e as que estão agora, reativando uma potência subestimada (ou, pelo menos o olhar sobre ela): a de carregar a coletividade dentro de si.
Ao lançar luz sobre esses gestos (pequenos, se pensarmos que sua extensão geográfica se limita ao braço, à perna, ao grito), Tremor os transforma em acontecimentos. Mesmo que a narrativa flerte com grandes clichês heróicos, como fugas e crimes (que se colocam mais como alegorias¹ do que como ações de fato), o filme deposita a sua força em ações locais, nas maneiras de se usar o corpo, de formar comunidades, de se manter livre e vibrante, mais do que vivo. Em um ritmo que desafia a urgência que acomete aqueles que o espectam, o filme se dedica aos movimentos da ordem do acúmulo, do ninho, que não salvam o mundo e nem se propõem a fazê-lo, mas são parte de uma resistência milenar e nos convidam a pensar outras formas de ser e de fazer.
A própria lógica de produção do filme parece muito mais comprometida com aquela que suas imagens inspiram do que com a da indústria. Em uma construção artesanal e afetiva, a memória das personagens é materializada através de diferentes marchas, técnicas e movimentos e as distinções marcadas entre um artifício e outro nos permitem ver as operações que as formaram, as rebarbas da costura. O cordão umbilical entre processo e produto permanece, fazendo imaginar a escrita das falas em uma folha de papel, a criação da armadura do soldado, as conversas entre a direção e as atrizes, a reciclagem de uma locação. Quebrar a mística da criação cinematográfica, entretanto, não quebra o encanto dos acontecimentos, mas nos mostra que certas imagens e ações libertadoras são, para além de necessárias, possíveis.
Em assumida deriva, as explosões em papel e caneta e a aposta na força política dos corpos dissidentes prestes-a-fazer-algo são gestos cada vez mais reincidentes no nosso cinema, se tornando mais categoria do que subversão. Tremor Iê, que começou seu processo há três anos, se encaixa dentro dela, explora os signos já explorados e não provoca explosões. Não obstante e nem obsoleto, ele nos lembra, também, que em um país que resiste desde sempre, ainda há muitas imagens e modos de ser a serem iluminados, que a potência das alegorias se recria e, principalmente, que basta haver fogo para que haja cinema.
¹ No sentido que Ismail Xavier confere ao termo.