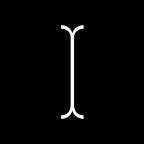O cinema e a náusea
Por Bárbara Bergamaschi
“Penetra surdamente no reino das palavras
Lá estão os poemas que esperam ser escritos”
Presa a sua classe e a sua roupa*, Maria, de branco, recebe ordens no restaurante em que trabalha. Em meio a tilintar agudos e incômodos das panelas de inox, do chiar da fritura e do fogo, ela escuta a hora formidável do almoço na cidade. No frenesi da cozinha, o patrão ralha com Maria pela falta de atenção. Em 30, 40 ou 50 segundos, as bocas sugam um rio de carne, legumes e tortas vitaminosas. Bancadas de aço e janelas de vidro refletem os rostos frios dos funcionários, nas lentes de olhos líquidos da fotógrafa, Anna Júlia Santos. O rosto da atriz Maria Leite absorve, apático, a violência das palavras duras do chef. Sob a pele das palavras, nos subterrâneos da fome, há cifras e códigos. Ao final do expediente os funcionários conversam sobre amenidades, riem das agressões. Que triste são as coisas consideradas sem ênfase. Este é o epílogo que abre o curta-metragem Mesmo com Tanta Agonia, de Alice Andrade Drummond, filme ditado no ritmo de três tempos: tempo da fome, tempo da divisa e tempo do amor.
Tempo de homens partidos. Tempo de gente cortada
Pela rua cinzenta, Maria sai do trabalho e, junto com todos os homens, volta para casa. Passam de longe, bondes, ônibus e carros, rios de aço do tráfego. Atravessando a solidão, pessoas e coisas enigmáticas, Maria chega até o metrô. Espera. Entram na composição: Homem, homem, mulher, homem, mulher, roupa, homem. Imaginam esperar qualquer coisa, e se quedam mudos, escoam-se passo a passo, sentam-se últimos servos do negócio. Imaginam voltar para casa já noite, entre muros apagados, numa suposta cidade, imaginam. Filmados pela câmera invasiva em um close super aproximado, o enquadramento reforça a claustrofobia dos corpos dos trabalhadores apinhados dentro da máquina. O condutor do trem anuncia: “Senhores passageiros, o trem ficará paralisado por tempo indeterminado em função de um usuário na via.”
Corte seco, brusco, tela preta. Ouve-se apenas a exclamação no escuro: “vai passar por cima dele!”. O trem prossegue viagem. André Bazin¹ já alertava: “Não se morre duas vezes. Como a morte, o amor se vive, mas não se representa (…). A fotografia não tem nesse ponto o poder do filme, não pode representar mais que um moribundo ou um cadáver, jamais a passagem inapreensível de um a outro.” Como retratar a dor do outro?
Outro que tem nome. A cena se refere ao episódio trágico do vendedor ambulante Adílio Cabral dos Santos, atropelado na estação de Madureira por um trem da SuperVia na terça-feira, dia 28 de julho de 2015, no Rio de Janeiro. Após o atropelamento, um funcionário da SuperVia autorizou a passagem de um trem sobre o corpo de Adílio, em vídeo exibido pelo jornal RJTV, que chocou o Brasil. Os parentes souberam da morte pela televisão. Enquanto o noticiário jornalístico expõe a transparência obscena do real, o cinema opta pela via da opacidade, caminho da poesia. A tela preta retrata a cegueira cotidiana para o horror insidioso. Nos tempos sombrios do país, mais do que nunca, é preciso estar atento para a banalidade do mal e seu crescimento subterrâneo. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. De volta à cena ouvimos em voz off os repórteres comentando o ocorrido. A falsificação das palavras pingando nos jornais. Crimes da terra, como perdoá-los? Posso sem armas derrotá-los? Não, o tempo não chegou da completa justiça. O que aconteceu com a família de Adílio? Os jornais não noticiam mais.
Tempo de amor
Maria chega finalmente no seu destino: a festa de sua filha Julya. A comemoração acontece dentro de uma limusine rosa com uma inscrição na lateral da porta: “Paris Vegas”. Melancolias, mercadorias a espreitam. As meninas se divertem, tomam champanhe sem álcool e escutam música pop alta, gritos sob a luz neon. Abafando o rumor que salta do coração. Pela primeira vez Maria sorri somente nas imagens tremidas da câmera de celular que passam de mão em mão, e que serão colocadas no canal youtube — destino das imagens, um mundo à parte. As crianças e a mãe sobem no teto solar do veículo, fazem selfies e olham para a lua da Avenida Paulista. No céu da propaganda, aves anunciam a glória. Quando Maria faz expressão de cansaço, uma das amigas² da filha reclama: “Anima, Tia! Anima, Tia!”.
E agora? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora?
Maria dirige, leva sua filha para casa, enquanto ela dorme profundamente no banco de trás. As luzes da cidade de São Paulo refletem no vidro do carro e encobrem o rosto da mulher. Sua cor não se percebe. O rosto de Maria não se fixa, alternando numa cadência exponencial de cores, no ritmo frenético acelerado urbano. Símbolos obscuros se multiplicam. Maria tem mil faces secretas sob a face neutra. Um Eu todo retorcido. O dia de Maria toma conta da alma e dela extrai uma porcentagem. O ar da noite é estritamente necessário para continuar, e continuamos. Certas histórias não se perderam.
Um filme furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.
* Essa crítica foi composta por um cotejo de diferentes versos retirados dos poemas: A Flor e a Náusea, José, Idade Madura, Nosso Tempo e Procura da Poesia do poeta Carlos Drummond de Andrade, publicados no livro A Rosa do Povo em 1945. Os versos estão indicados em itálico. O nome da produtora do curta, “A Flor e a Náusea”, o sobrenome e a origem Itabirana da diretora — os mesmos do modernista mineiro — me chamaram a atenção para essa herança poética. No 51o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro o curta-metragem foi laureado com os prêmios: Melhor atriz (Maria Leite), Melhor fotografia (Anna Santos — DAFB), Prêmio Abraccine de Melhor Curta-Metragem, Prêmio Aquisição Canal Brasil — Melhor Filme Curta-Metragem.
1. “Morte todas as tardes” in XAVIER, Ismail (ORG) A Experiência do cinema : Antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal: Embrafilme, 1983
2. A figuração é feita pela atriz mirim Rillary Rihanna Guedes, uma das revelações do filme.